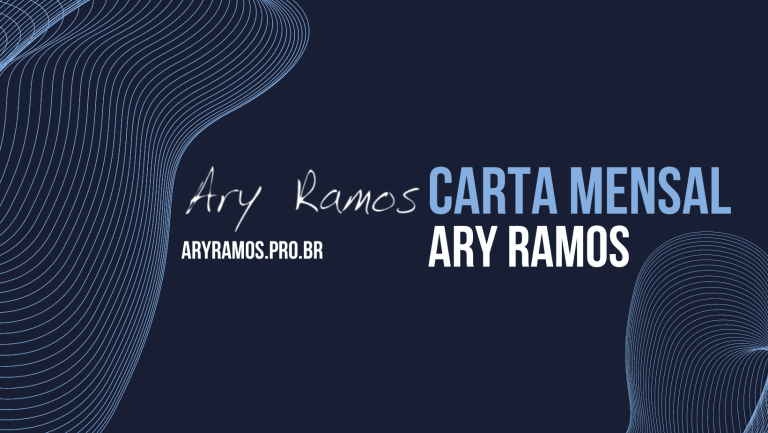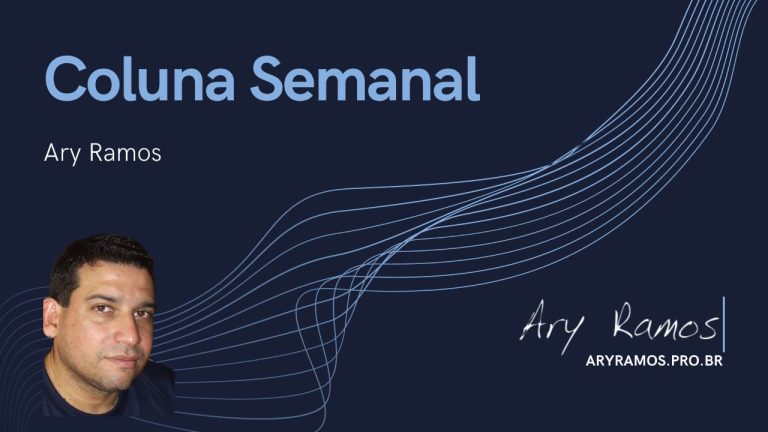A crise orgânica do capital forneceu o terreno para a irrupção da ultradireita
A Terra é Redonda – 23/05/2023
Alejandro Pérez Polo
O crash de 2008: aqui começou tudo
O ano era 2012. A crise económica resultante da Grande Recessão estava a grassar na Europa. As mobilizações populares em Espanha (15M e a greve geral de março de 2012) e os protestos violentos na Grécia tinham infetado todo o mundo ocidental. Chegaram ao coração do império: em Nova Iorque, os cidadãos manifestavam-se em Wall Street através de Occupy. Não havia quase vestígios da extrema direita em lado nenhum. Nem mesmo em França a estreante Marine Le Pen lograva chegar à segunda volta das eleições presidenciais, que haveriam ser decididas entre Sarkozy e Hollande, com uma vitória socialista.
Estava em curso uma fase de decomposição ideológica e orgânica do neoliberalismo. Os consensos econômicos da globalização, após a queda da U.R.S.S., tinham sido estilhaçados para sempre. A lua-de-mel que durou de 1991 a 2008, na qual o capitalismo desenfreado conseguiu incorporar na sua lógica todos os países da ex-União Soviética, terminou. Uma subsunção formal e material de todo o globo chegara ao seu fim.
Isto resultou numa grande crise de hegemonia que se alastrou a todos os estratos de poder. Assim, ninguém foi poupado ao desafio: crise de representação, que levou a uma crise dos partidos tradicionais e à possibilidade do surgimento de novas forças políticas. Crise dos meios de comunicação, que tentaram defender o indefensável e perderam a credibilidade pública. Isto preparou o caminho para as notícias falsas (fake news) que a extrema direita tanto explorará, e para o surgimento de novos meios de comunicação social. Houve também uma crise da instituição científica por se ter associado ao público e ao oficial, que mais tarde abriria o campo para a psicose conspiracionista que atingiria o seu auge com a pandemia da COVID-19.
A crise orgânica do capital forneceu o terreno para a irrupção da ultradireita, que exploraria ao máximo todos os derivados do colapso ideológico do edifício neoliberal. No entanto, foi
primeiro a esquerda popular que agarrou a oportunidade.
Em 2012, após duas décadas de inanição, digerindo a derrota histórica da U.R.S.S., a esquerda assumiu a liderança. Viu o momento e soube ligar-se tanto com o pulsar da rua como com a proposta constituinte subsequente. Foram aprendidas lições, renovados manuais e empreendido um período de reflexão profunda, que permitiu que o novo cenário fosse confrontado com garantias.
Assim, em 2015, Alexis Tsipras ganhou a presidência do governo grego, numa vitória eleitoral inimaginável, após décadas de bipartidarismo. Em Espanha, Pablo Iglesias e o Podemos obtiveram mais de cinco milhões de votos (20,2% dos votos) o que, somado ao milhão de votos da Izquierda Unida, posicionou pela primeira vez a esquerda ao PSOE acima da social-democracia (6 milhões de votos contra 5,5). Bernie Sanders abalou as fundações do Partido Democrático dos EUA: Hillary Clinton teve de servir-se de todos os recursos do aparelho para o deter. Em Itália e França, tanto o Movimento Cinco Estrelas como Mélenchon estavam a começar a subir nas sondagens. Houve um impulso popular liderado pela esquerda em todo o mundo ocidental.
Dois anos mais tarde, no entanto, tudo tinha mudado. A fragilidade da dinâmica popular de esquerda abalou alguns apostadores corajosos, que voltaram às zonas de conforto clássicas, talvez impressionados ou intimidados pela sua própria força eleitoral. Dos discursos que bebiam da hipótese nacional-popular latinoamericana (soberania popular, democratização da economia e disputa sobre a universalidade da nação), deslocaram-se para os eixos clássicos da esquerda ilustrada da classe média (ambientalismo, direitos das minorias, europeísmo). A derrota de Tsipras pela União Europeia, após o referendo contra as medidas draconianas de austeridade, foi um golpe do qual foi difícil recuperar.
Em 2017, Donald Trump tornou-se presidente dos Estados Unidos da América, depois de ter vencido Hillary Clinton. Marine Le Pen conseguiu chegar ao segundo turno das eleições presidenciais francesas, num primeiro embate contra Emmanuel Macron que seria repetido em 2022. Em Itália, a Lega alcançou o seu melhor resultado de sempre (16%, a base do que mais tarde se tornaria Fratelli d’Italia) e, em Espanha, o fenómeno VOX começou a tomar forma, que despertaria com uma força poderosa em 2018 (nas eleições andaluzas). Restava a experiência italiana, com o Movimento Cinco Estrelas a liderar um executivo de coligação com o populismo da Lega, após uma importante vitória eleitoral, construída sobre o desafio às velhas elites económicas e políticas.
O mapa já tinha mudado. Agora, mal estreado o novo ano de 2023, a extrema direita governa em Itália, após uma vitória eleitoral esmagadora, revalidou a presidência húngara com Orban, bem como a da Polónia, com o partido Direito e Justiça, VOX detém cerca de 15% dos votos em Espanha, Le Pen conseguiu ultrapassar 41% em França e prepara-se para um assalto ao Eliseu em 2027, tal como Trump se prepara para a Casa Branca em 2024.
Mais uma vez, como na década de 2000-2010, apenas a América Latina se apresenta como o novo farol da esquerda no mundo. Como nessa altura, vários líderes populares ganharam a presidência dos seus respetivos países, sob uma clara aposta de esquerda, não alinhada com qualquer grande potência ocidental, mesmo que sejam agora um pouco mais defensivos e acompanhados de um poderoso rearmamento das suas respetivas direitas nacionais.
O que aconteceu para que a extrema direita assumisse a liderança da direita no Ocidente?
O medo é a emoção dominante na recessão
A crise de 2008 mudou tudo. O colapso do sistema financeiro norte-americano arrastou todas as potências alinhadas com os Estados Unidos da América, enquanto a periferia do mundo (China, Rússia, Brasil, Índia) avançou, tirando partido da fragilidade ocidental para continuar a crescer e a ocupar mercados. Um realinhamento global começou a tomar forma devido à fraqueza dos Estados Unidos da América e à força dos países emergentes. Uma nova arquitetura estava em construção, na qual novos poderes assumiriam um papel de liderança, capaz de conceber o seu modelo com uma grande capacidade de negociação.
Os declínios civilizacionais nunca acontecem da noite para o dia. Demoram décadas a materializar-se. O fim do consenso neoliberal significou, na realidade, o fim da própria crença na superioridade do sistema ocidental em relação a outros sistemas económicos do globo. A esquerda ocidental foi capaz de o ler corretamente na altura e, por essa razão, surgiu a aposta radical num sistema mais justo, que distribuísse riqueza e alterasse as regras do jogo, em conexão com aquele momento destituinte. Havia ainda esperança em poder tomar o poder para transformar as relações de dominação.
Contudo, os velhos fantasmas surgem frequentemente quando tudo parece estar no bom caminho. Foi o cientista político Dominique Moïsi que propôs uma nova forma de compreender a geopolítica para além das relações económicas entre países. Segundo esta forma de pensar, para além dos valores coletivos, há narrativas que moldam os grandes estados de espírito das nações. Assim, Dominique Moïsi propõe-se a falar de uma “geopolítica das emoções”, em que diversas potências atuam sob a influência de diferentes sentimentos: o medo seria a emoção dominante no Ocidente, a humilhação no mundo islâmico e a esperança na Ásia.
Esta forma de olhar para os principais estados anímicos que motivam diferentes governos é bastante explicativa da forma como lidamos com as questões globais. O medo no Ocidente empurra-o na direção de políticas mais centradas na segurança e leva-o a estar constantemente na defensiva no plano ideológico. Se compararmos isto com a atitude do governo chinês, por exemplo, eles são movidos pela confiança num futuro promissor. Eles estão na ofensiva, movidos pela esperança nos seus próprios valores, no seu próprio sistema e na sua própria liderança.
No Ocidente há medo: medo dos refugiados e de um mundo exterior que assoma tragicamente todos os dias nas águas do Mediterrâneo. Medo da Rússia e das novas potências emergentes. Medo das alterações climáticas, medo de protestos sociais que já não podem ser geridos eficientemente, medo de notícias falsas e do populismo. Medo, em suma, do futuro. Este medo é o principal ingrediente de que se alimenta a extrema-direita, que oferece discursos mais tranquilizadores, estruturados em torno do regresso de valores e estados fortes, prontos a lutar face às turbulências do nosso século.
A extrema direita já não é futurista como o velho fascismo italiano ou o nazismo alemão, que prometia a glória de um Terceiro Reich. A extrema direita é reativa e procura, acima de tudo, atenuar os medos decorrentes das ansiedades existenciais que atravessam o Ocidente como um todo. Sem uma esquerda capaz de assumir estas ansiedades existenciais, o terreno será fértil para os seus sucessivos triunfos eleitorais.
A extrema direita não emergiu contra a democracia “burguesa” ou liberal. Eles não estão a abandonar nenhum navio, mas a tomar os seus comandos. A compatibilidade de Giulia Meloni com a União Europeia e a OTAN mostra que a extrema-direita não se opõe às elites europeias, mas que são, isso sim, a sua expressão mais sobreaquecida. Aspiram a assumir os receios que a velha direita liberal já não consegue enfrentar. Aspiram a refundar a Europa numa chave cristã e civilizadora, para a proteger das ameaças que a assolariam.
É neste ponto que eles encontram grande apelo entre o eleitorado e uma grande força em suas hipóteses. Ao contrário de muitos esquerdistas populistas, as expressões de extrema direita dificilmente regrediram eleitoralmente desde que rebentaram na cena política, porque estão inscritas num zeitgeist: são a expressão mais clara do colapso civilizacional resultante da crise de 2008 e da perda de posições do Ocidente no mundo.
O primeiro grande nó para desvendar a força política e discursiva da extrema direita reside nestes elementos geopolíticos, emocionais e políticos. Mas não é o único nó. Há outro nó que precisa de ser tratado como prioritário: a expressão das classes trabalhadoras excluídas do discurso público.
A distância sentimental da esquerda em relação ao povo
Quando em França surgiram os coletes amarelos, um protesto social de uma enorme envergadura, muitas pessoas à esquerda tinham uma desconfiança intuitiva destes “homens” das “províncias”, que se mobilizavam contra o imposto sobre o gasóleo. A mesma desconfiança foi sentida quando, em março de 2022, os camionistas espanhóis encenaram uma marcha atrás contra o governo de coligação por causa do aumento dos preços da gasolina. Foram acusados de serem instrumentalizados pela extrema direita, em vez de receberem ligação emocional às suas exigências (uma justa reivindicação contra uma escalada impossível de aumentos de preços).
Durante a última década, um ódio crescente às classes trabalhadoras foi inoculado em Espanha e no resto do Ocidente. Esta estigmatização, perfeitamente descrita no fenomenal livro Chavs de Owen Jones, tem vindo a derivar para uma completa demonização. Os trabalhadores são retratados como um bando de sexistas e racistas. Longe de combater estes arquétipos, a maior parte da esquerda assumiu estes clichés como seus. Muitas expressões populares são suspeitas. De facto, os ataques ao que tem sido chamado vermelho-pardismo (“rojipardismo“) estão estruturados em torno destes preconceitos. O vermelho-pardismo seria qualquer “esquerda obsoleta”, que não assumisse como seus, entre outros, os avanços do feminismo ou da luta contra o racismo (multiculturalismo).
Na tentativa de alinhar a esquerda com as elites realmente existentes, o disciplinamento discursivo veio do lado da suposta sofisticação dos postulados verdes, liberais e da tolerância para com o diferente. Estas ideias políticas, apresentadas como o auge da cultura, são postuladas como representando um estádio mais avançada do ser humano. Não existe uma análise dos preconceitos de classe destas ideias urbanitas, mas eles operam fortemente nos discursos mainstream.
A globalização criou vencedores e perdedores. Hoje, estamos numa fase que Esteban Hernández descreve como de desglobalização, acentuada pela guerra na Ucrânia, mas há uma parte das elites e das classes médias que continuam a apostar na dissolução das soberanias nacionais, convencidas de que a União Europeia é o melhor horizonte possível. Assim, uma fação esclarecida da classe média (jornalistas, académicos, pessoas das profissões liberais e parte da função pública) acredita numa aliança com as elites globalistas. Olha para cima devido à vertigem que sente quando olha para baixo, para o abismo da precariedade e da pobreza, de que faz parte mais de 35% do nosso país. Essa fação da classe média em desaparição confia em ser incluída no mel do progresso das elites e tem muito medo de ser deixada de fora, na periferia do progresso.
Quem assume os desconfortos, os anseios e as vozes dos que estão na base, se a classe média iluminada se recusa a aliar-se a eles? Pois bem, é a ultradireita que tira partido do flanco. A ultradireita consegue unificar os excluídos de cima (essas elites nacionais que foram excluídas do globalismo) e os excluídos de baixo (os perdedores da globalização) sob um único eixo.
Como explica o geógrafo e ensaísta francês Christophe Guilluy, as classes dominantes são postuladas como sendo a força positiva do progresso, os únicos herdeiros da melhor tradição da cultura ocidental (pureza) e as classes populares deixam de ser uma referência cultural positiva, como eram antes dos anos 1980, tornando-se os perdedores e fracassados do sistema, culpados da sua própria miséria e atraso político-moral. O desaparecimento da classe média, para este autor francês, inaugura uma nova era em que os que se encontram no topo se desentenderão com os que se encontram na base, que serão condenados ao ostracismo cultural e moral. Desta forma, as classes populares são excluídas como sujeitos ativos com uma voz própria.
Esta ruptura entre o mundo de acima e o mundo de abaixo provoca, ao mesmo tempo, que os expulsos da sociedade (as classes populares) construam as suas próprias narrativas que são impermeáveis às narrativas das classes dominantes. Daqui surge o populismo, como um regresso ao povo, uma tentativa de reconstruir a sociedade quebrada pela cisão das elites. No entanto, este populismo pode oscilar entre a crispação autoritária (ultradireita) e uma abertura democrática (republicana).
Para que a expressão popular não seja monopolizada pela extrema direita e não seja redirecionada para lugares escuros, é necessário colocar o bem comum e a ideia de povo de novo no centro das políticas e do discurso. Recuperando a linguagem popular e colocando os valores da comunidade sob uma luz positiva. Uma tarefa importante é afastar-se dos jogos moralistas que as elites utilizam para estigmatizar as classes populares, para reposicionar de novo a referência cultural nas expressões que vêm de baixo. Afirmando o seu próprio projeto, que não está subordinado nem às velhas elites nacionais, nem às novas elites globais, mas que assume o comando das alianças interclassistas.
A ultradireita é uma expressão do colapso do Ocidente. Hoje em dia, é necessário tomar em conta este colapso, para que haja uma solução democrática e popular para as crises que lhe sucederão.
Da mesma forma, é necessário tomar conta das ansiedades existenciais que este colapso está a provocar entre as maiorias sociais (medos e desconfortos profundos), assumindo positivamente uma nova expressividade que aspira a refundar a ideia de povo, face à fragmentação e dissolução do social, propostas pelas elites. Caso contrário, a ultradireita continuará a conquistar espaços políticos, sociais e culturais, acumulando mais vitórias eleitorais. Está nas nossas mãos não permitir que isto aconteça.
*Alejandro Pérez Polo é jornalista e mestre em filosofia pela Universidade de Paris VIII.