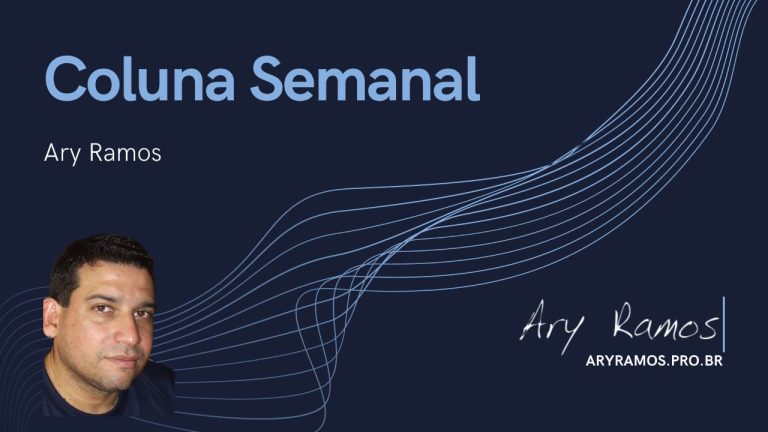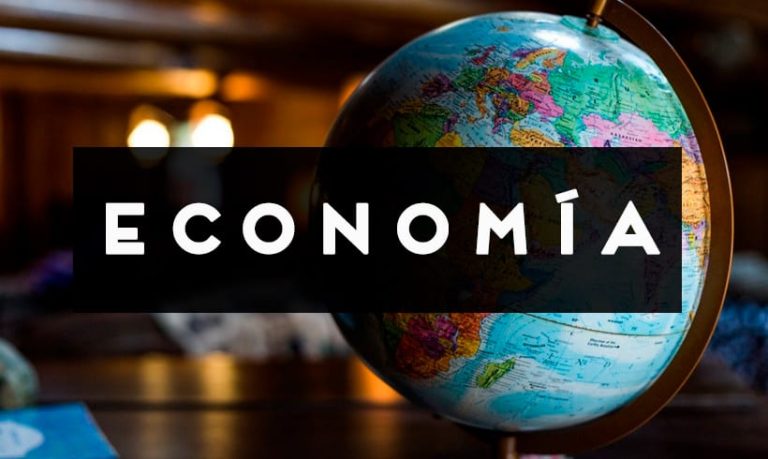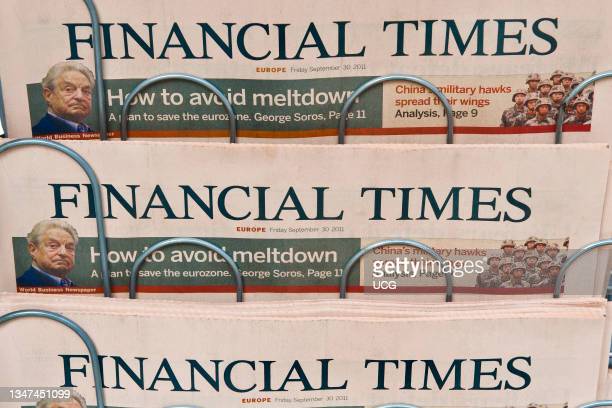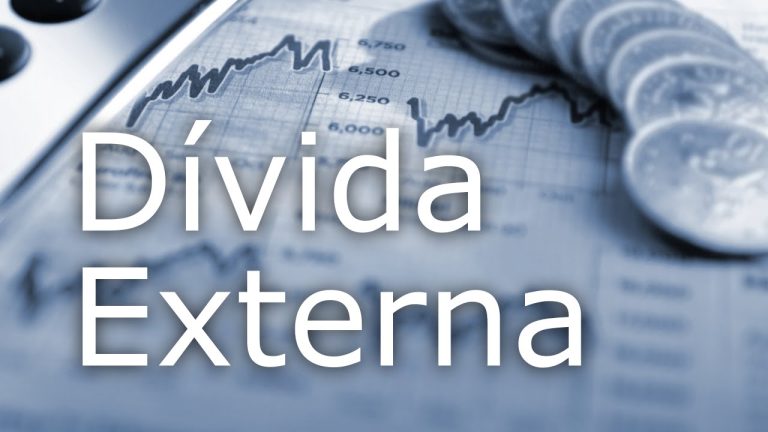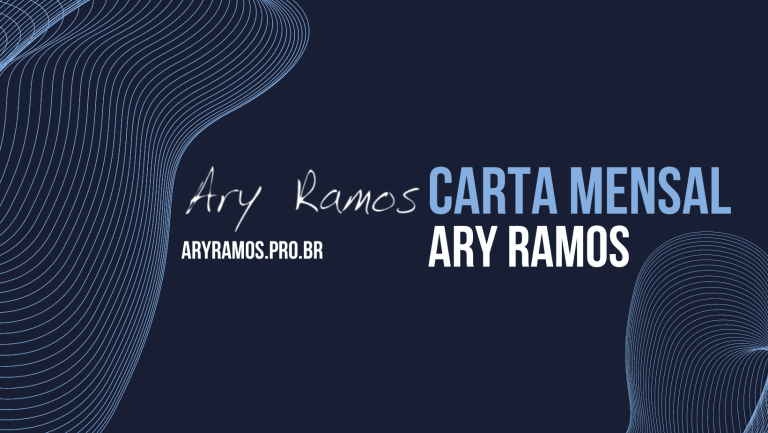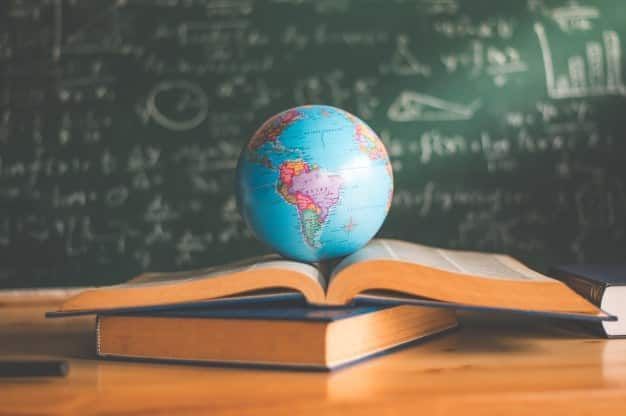O Brasil é o quarto maior mercado mundial de consumo de bens e serviços digitais, mas continua sendo grande importador. Superar dependência requer políticas de desenvolvimento autocentrado, capaz de reconstruir o sistema produtivo nacional
Marcio Pochman, Economista e Professor da Universidade de Campinas
Outras Palavras – 24/04/2023
O Brasil demorou três décadas para ingressar de fato no século 20, o que somente começou a ocorrer a partir da Revolução de 1930, quando o país se libertou do domínio liberal. Até então, predominou a sociedade agrária que, longeva e primitiva, estava aprisionada aos atrasos do século 19.
Ainda que tardiamente, a modernização capitalista permitiu que em menos de meio século o Brasil
integrasse as 10 principais economias industriais do mundo. Para tanto, a aliança tripartite entre os capitais estatais e privados nacional e estrangeiro foi substancial, especialmente em momentos graves vividos pelo mundo (S. AMIN La desconexion. Hacia un sistema mundial policéntrico, 1988).
Inicialmente, na fase crítica da Segunda Guerra Mundial, o acordo entre Getúlio Vargas (1930-1945) e Franklin Roosevelt (1933-1945) marcou a transferência tecnológica e a participação do capital estadunidense na constituição da indústria de base nacional. Posteriormente, a tensão em torno da Guerra Fria foi utilizada por Juscelino Kubitschek (1956-1961) para atrair um verdadeiro bloco de investimento externo que edificou a industrialização pesada no país (P. Evans A tríplice aliança: as multinacionais, as estatais e o capital nacional no desenvolvimento dependente brasileiro, 1980).
Mas, quando o país se preparava para o ingresso na Era Digital em constituição no final do século 20, com a montagem interna da microeletrônica e o salto tecnológico e informacional em curso com a lei de informática e parcerias dos capitais japoneses e alemães, houve a grande desistência histórica nacional (M. Pochmann A grande desistência histórica e o fim da sociedade industrial, 2022). O caminho do declínio brasileiro pôde ser quantificado pela perda de sua participação relativa no PIB mundial de 3,2%, em 1980, para 1,6% em 2021.
Assim, as últimas quatro décadas configuraram o aprofundamento do grau de dependência externa do Brasil, com o retorno à especialização produtiva e à reprimarização exportadora. A colagem do endividamento externo com a expansão da dívida pública interna herdada dos últimos governos da ditadura civil-militar (1964-1985) demarcou a base pela qual a financeirização da economia ganhou autonomia concomitantemente com o regime de superinflação.
Na sequência do ingresso passivo e subordinado na globalização neoliberal desde 1990, a queda do processo hiperinflacionário transcorreu mediante a renegociação da dívida externa e a implantação do Plano Real. Uma receita mortífera à industrialização, uma vez que a combinação de elevadas taxas de juros reais atraentes ao ingresso do capital externo que ao valorizar a moeda nacional estimulou a substituição da produção nacional por importados, sobretudo os de maior valor agregado e empregos de qualidade.
Por fim, a prevalência do tripé macroeconômico desde 1999, com taxa de câmbio flutuante e metas de superávit fiscal e de inflação, terminou por consolidar a inserção do capital externo no reino da financeirização sustentado por elevadíssimas taxas de juros e crescente desconexão com a antiga relação periférica com os países do nortecentrista. Em realidade, foi implantado o modelo econômico extrovertido, cuja dependência com o exterior determina o dinamismo nacional alimentado por mercado interno contido e asfixiante da produção e consumo de bens industriais, cada vez mais provenientes do exterior.
A reversão desta situação nacional requer pôr em curso um conjunto de políticas voltadas ao desenvolvimento autocentrado, capaz de reconstituir o sistema produtivo nacional competitivo. Ou seja, é necessário o reposicionamento brasileiro na Divisão Internacional do Trabalho da Era Digital, uma vez que o país, enquanto quarto maior mercado mundial de consumo de bens e serviços digitais, continua sendo importador.
Neste sentido, a recomposição do investimento requer o estabelecimento do antigo tripé dos capitais em novas bases. De um lado, existe a circunstância interna de o Estado brasileiro ter a disponibilidade de recursos financeiros em reservas externas e depósitos internos, ao mesmo tempo em que o capital privado nacional se encontra entesourado em fundos de aplicações financeiros especulativos e de curto prazo.
De outro lado, o imbróglio do capital externo. Aquele derivado dos países ocidentais tem sido declinante na última década, inclusive com a saída de grandes corporações transnacionais. Já o capital derivado dos países orientais, especialmente da China tem sido crescente.
Por conta disso, a preparação para o ingresso no século 21 pressupõe a redefinição política da convergência dos capitais em torno de novo padrão de acumulação para o desenvolvimento autocentrado na reindustrialização em plena Era Digital. Isso dificilmente ocorrerá sem o rompimento com a dependência periférica neoliberal gerida pela financeirização e superexploração do trabalho resultante da atual presença na divisão internacional do trabalho como país primário exportador.