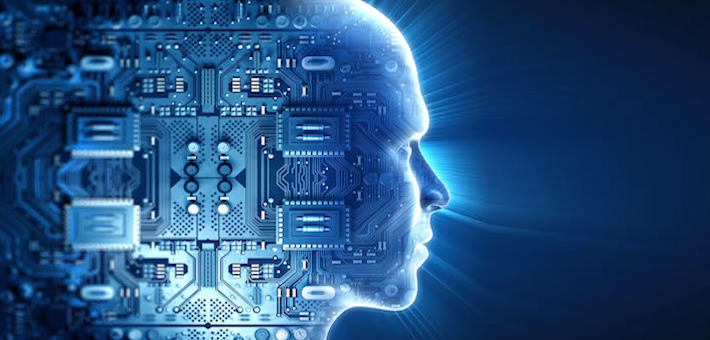Educação cidadã é primordial para enfrentar racismo, diz Kabengele Munanga
Para antropólogo, combate ao problema se dá por três caminhos: leis, ensino com viés antirracista e ações afirmativas
Priscila Camazano – Folha de SÃO PAULO, 26/02/2023
O combate ao racismo estrutura depende de uma educação cidadã antirracista, sugere o antropólogo congolês-brasileiro Kabengele Munanga. Ele a firma que não há uma receita pronta para lutar contra o preconceito racial, mas há três caminhos possíveis: as leis, a educação antirracista e as ações afirmativas.
“As leis, embora existam, só atingem práticas racistas observáveis. Os preconceitos que são introjetados pela educação e estão na cabeça das pessoas, não. Só a educação pode atingir esse terreno”, afirma.
Munanga é antropólogo e professor aposentado da USP. Ele nasceu em Bakwa Kalonji, no antigo Zaire, atualmente República Democrática do Congo, em 1940. Está no Brasil desde 1975.
Ao longo desses anos, ele se debruçou nos estudos sobre antropologia da África e da população afro-brasileira e nas questões raciais. O intelectual contribuiu de forma significativa na discussão sobre raça e para derrubar o mito da democracia racial.
Foi no país do continente africano que ele iniciou seus estudos na antropologia, ao cursar a graduação na Universidade Oficial do Congo (1964-1969). Depois, ganhou uma bolsa de estudos para fazer o doutorado na Universidade Católica de Louvain, na Bélgica.
Em 1971, o antropólogo retornou ao país de origem para fazer um trabalho de campo, mas foi impedido pela ditadura de Mobutu Sese Seko (1930-1997).
A convite do então diretor do Centro de Estudos Africanos da USP, ele veio ao Brasil, em 1975, e conseguiu, assim, concluir sua pesquisa.
O antropólogo ingressou como docente na USP em 1980, tornando-se o primeiro professor negro da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Na universidade, lecionou até 2012, quando se aposentou, após 32 anos na instituição.
O livro “Negritudes: Diálogos com o Pensamento de Kabengele Munanga” (Editora Autêntica), lançado em novembro, reúne textos em homenagem ao legado intelectual do professor.
A publicação aborda a sua longa trajetória no engajamento sociopolítico em defesa dos direitos humanos, por sua produção crítica de combate ao racismo e promoção da equidade étnico-racial.
Em conversa com a Folha, o professor falou sobre mito da democracia racial, racismo estrutural, ações afirmativas e a lei 10.639, que estabelece o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana na educação básica.
Por que o senhor define que no Brasil o racismo é um crime perfeito? É um crime perfeito porque o mito da democracia racial, por muito tempo, impediu que se falasse da existência do racismo no país.
Na época em que eu cheguei aqui, dizer que o Brasil era um país racista era como um crime. Eu não tive problema para fazer minhas pesquisas, porque meu tema era a África e nada tinha a ver com a questão do negro no país.
Mas tive um colega que veio da Índia para São Paulo com um projeto de estudo sobre a classe média negra em São Paulo. Um dia, ele declarou em uma entrevista que seu projeto era estudar aqui o racismo e a questão do negro no Brasil. Ele foi convocado pelo Dops [Departamento de Ordem Política e Social], passou duas noites lá e, no dia seguinte, não quis mais tocar no assunto. O tema do trabalho dele mudou para a existência das castas na Índia.
Isso é para mostrar o quanto era difícil [falar sobre racismo]. Nesse sentido, eu e outros colegas, como Hélio Santos, achamos que o racismo é um crime perfeito. É como um carrasco, e o carrasco mata sempre duas vezes. Mata fisicamente os negros e mata a consciência de todos os brasileiros.
Mas essa frase não é minha, vem de um prêmio Nobel judeu, Elie Wiesel. Foi ele que disse: o carrasco sempre mata duas vezes, a segunda é pelo silêncio.
Falando em silêncio, como lidar com essa faceta do racismo? Olha, esse silêncio é o mito da democracia racial e, como diz a própria palavra, é um mito. Os políticos e ideólogos usaram essa ideia justamente para escamotear os problemas da sociedade. Para dizer que o Brasil não é racista, porque é uma sociedade mestiça.
Essa ideia foi desmistificada a partir da década de 1930 pela Frente Negra Brasileira. Eles acreditavam que o problema era simplesmente de educação, mas, aos poucos, os negros que tiveram acesso a ela encontraram barreiras no mercado de trabalho. Eles chegaram à conclusão de que isso aqui não era democracia.
Depois, com as pesquisas da academia e as denúncias e protestos do movimento negro, a sociedade brasileira começou a se conscientizar.
Os negros se deram conta de que a educação era muito importante, mas depois chegaram à conclusão de que não bastava, precisava também de uma educação cidadã, que conscientizasse os brasileiros de que o Brasil é um país do pluralismo cultural, do encontro das culturas e civilizações.
O sr. afirma que “o mito da democracia racial, apesar de já ter sido destruído política e cientificamente, tem uma forma inercial difícil de desmantelar”. Que forma é essa? Sabe o que é inércia? A inércia é um movimento que ainda deixa traços. Ainda há pessoas, apesar do crescimento da consciência, que acreditam em ideologias antigas, como a de que não há racismo no Brasil.
O mito foi desconstruído pelo movimento negro, pelos intelectuais, mas a força desse mito ainda existe na estrutura da sociedade e no inconsciente coletivo. Isso que chamo de inércia.
O que podemos fazer para combater essa forma inercial do racismo? Hoje, no Brasil, se fala em racismo estrutural depois do livro do Silvio Almeida e do Dennis de Oliveira, que escreveram obras com esse título. Ninguém utiliza a palavra racismo sem adjetivá-la.
O racismo tem uma forma difícil de destruir, aquela alojada na estrutura da sociedade que se manifesta nas instituições.
Esse racismo é o maior problema. Nós não temos ferramentas, receita pronta, para lutar contra ele.
Se tivéssemos, não existiria mais racismo no mundo.
Como modificar a estrutura de uma sociedade capitalista? Não é pelo discurso. Ou se faz uma revolução e constrói outro modelo de sociedade, mas isso é uma utopia —com a qual estamos sonhando.
Ou nós temos três caminhos, que eu chamo de clássicos. O primeiro é pela lei. A primeira foi a Lei Afonso Arinos, de 1951. Depois, em 1988, na nova Constituição, aparece uma nova que diz que qualquer prática de racismo é crime imprescritível, inafiançável e sujeita a reclusão. Agora tem uma nova lei que o presidente Lula acabou de assinar. Ela considera a injúria como um crime sujeito a reclusão.
Mas as leis, embora existam, só atingem práticas racistas observáveis. Os preconceitos que são introjetados pela educação e estão na cabeça das pessoas elas não atingem. Só a educação pode transformar esses nuances que o racismo criou. Nesse sentido, a educação é um instrumento de luta contra o preconceito.
O terceiro caminho são as políticas de ações afirmativas, de inclusão, porque não basta dizer que perante a lei somos iguais, as pessoas vão continuar a discriminar.
Por que o racismo é sempre do outro? Qual a dificuldade em assumir as próprias manifestações racistas? Essa dificuldade tem a ver com a maneira como o racismo entrou no tecido social através da educação. As pessoas hoje têm dificuldade para dizerem que somos iguais.
Já ouviu falar da branquitude? Esse conceito nasceu da tese da Cida Bento. Ela foi a primeira pessoa a trabalhar com a consciência de branquitude, para mostrar que os brancos têm consciência das suas vantagens, mas não as criticam. Quer dizer que eles aceitam que são superiores para ter essas vantagens, mas ninguém reclama. Isso é racismo. Quando chega ao nível de naturalização não se vê mais injustiça.
A lei 10.639, que estabelece o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana na educação básica, completou 20 anos. Educadores e especialista ouvidos pela Folha afirmaram que professores e material didático sobre o assunto. Qual a avaliação do sr. sobre a lei? Por que as escolas estão com dificuldade de implementá-la? Olha, quando essa lei foi promulgada, fui uma das primeiras pessoas a falar dessa questão. Eu estava tentando mostrar que os educadores, os brancos e os negros, receberam uma educação racista. Muitos não sabem nem o que é realmente o racismo.
Como é que um educador que não sabe como o racismo à brasileira se expressa vai trabalhar com isso na sala de aula? A primeira coisa que fiz depois da lei 10.639 foram conferências de conscientização e sensibilização dos educadores em alguns municípios, para eles entenderem a importância da lei e que tinham uma grande responsabilidade.
Além dessas conferências, precisamos formá-los, porque eles não sabem como lidar com esse fenômeno. Tem também que produzir livros, materiais didáticos, porque os anteriores são repletos de preconceitos contra negros e povos indígenas.
Além do mais, em cada município teria que ter um monitoramento para saber se a lei está funcionando. Será que esse monitoramento existe? Eu tenho impressão de que a lei veio de uma maneira caótica.
Estava prevista para o ano passado a revisão da lei de cotas, mas foi adiada. Como avalia a situação das cotas? Há chances de perdermos essa política pública? As cotas são para reduzir um abismo de 400 anos [de escravidão]. Não se reduz um abismo de 400 anos em 20 ou 10 anos. Apesar da qualidade da política, isso vai demorar gerações. Não sei por que definiram 10 anos. Olha o exemplo da Índia. As cotas estão lá há 72 anos, porque eles sabem que é um longo processo.
As políticas de cotas têm de continuar, senão vai ser uma perda muito grande, um regresso para os negros. Quem vai perder vai ser a sociedade brasileira.
RAIO-X | KABENGELE MUNANGA, 82
Doutor em antropologia pela Universidade de São Paulo. É professor emérito do departamento de antropologia da FFLCH-USP. É autor de mais de 150 publicações entre livros, capítulos de livros e artigos científicos na área da antropologia da África e da população negra no Brasil, entre os quais “Os Basanga de Shaba” (1986); “Negritude: Usos e Sentidos” (1988); “A Revolta dos Colonizados” (1995); “Estratégias e Políticas de Combate à Discriminação Racial” (1996). É professor honoris causa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. É também pesquisador emérito do CNPq, entre outras dezenas de prêmios e títulos