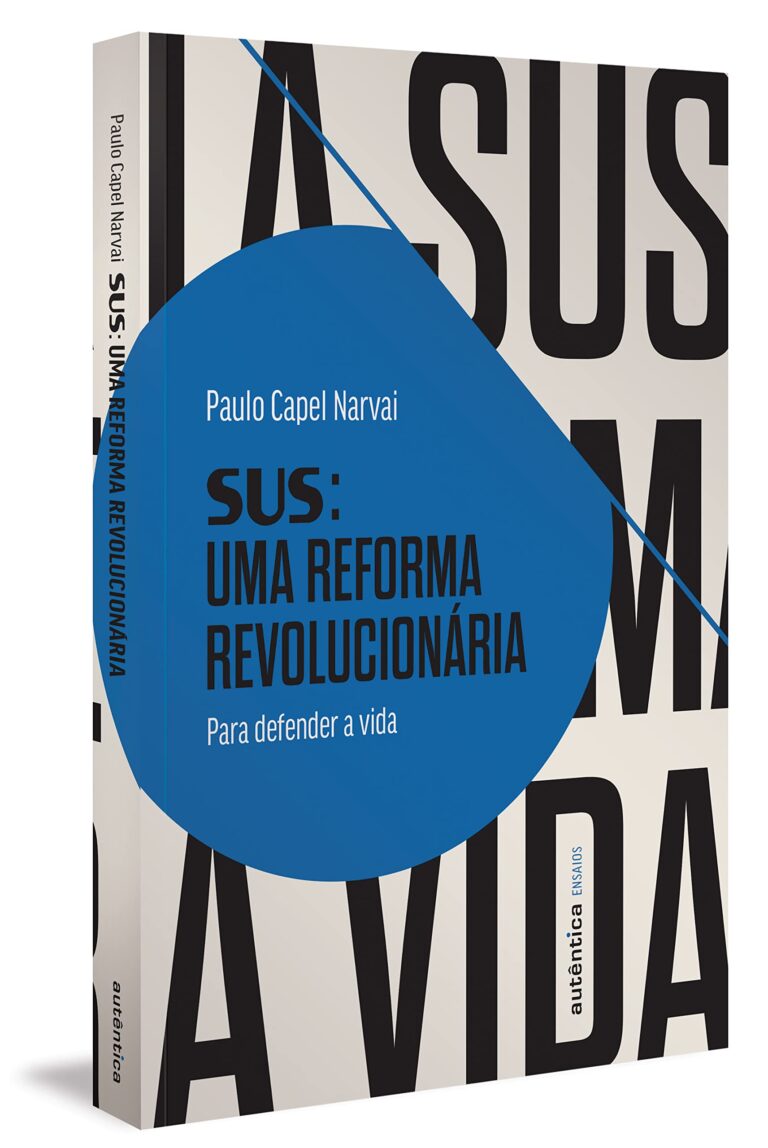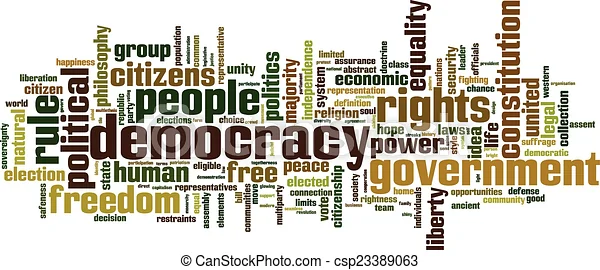Eugênio Bucci
A Terra é Redonda – 06/05/2022
Com a nossa pasmaceira hesitante e paralisante, estamos pagando para ver o pior acontecer
Até pouco tempo atrás, as passeatas de esquerda encenavam uma predisposição para o embate físico. A característica se fazia presente na coreografia de todos os comícios anticapitalistas, e não apenas no Brasil. Punhos erguidos socando o espaço sinalizavam a vontade de esmurrar o oponente. As palavras de ordem jorravam carregadas de agressividade quase bélica. Com frequência, lá vinham os black blocs atirando pedras nas vitrines e coquetéis molotov nos policiais. Naqueles tempos idos, embora tão recentes, a voz e o corpo da esquerda se opunham à ordem estabelecida, e sua linguagem eram as jornadas teatrais contra o establishment, a autoridade, as regras de trânsito e as boas maneiras.
Agora é o oposto. A velha gramática dos protestos virou de ponta-cabeça. Ano passado, nos Estados Unidos, quem promoveu arruaças foi a extrema-direita trumpista, que chegou ao cúmulo de promover a invasão do Capitólio. O símbolo mais icônico do atentado foi aquele sujeito enrolado num cobertor que parecia pele de urso e coroado, usando um capacete com dois chifres hediondos. O tipo ganhou o apelido midiático de “viking” e ficou famoso (no Brasil, um imitador do tal “viking” tem animado os convescotes golpistas do bolsonarismo).
A esquerda seguiu por outra via. Nos Estados Unidos, por exemplo, andou mais preocupada em filiar eleitores na Georgia para garantir a vitória do Partido Democrata. Enquanto a extrema direita tomou para si o gestual, a coreografia e a torpeza dos vândalos, a esquerda se reagrupou na defesa da legalidade e do Estado de Direito. Em Paris, foi a mesma coisa. Agora mesmo, tão logo foi anunciada a derrota de Le Pen no segundo turno, seus cabos eleitorais (neonazistas e congêneres) saíram pelos logradouros públicos chutando portas e latas de lixo; os personagens da esquerda, de sua parte, preferiram ritualizar o congraçamento entre as classes. Num mundo em que ninguém tem mais endereço certo e sabido, a pancadaria mudou de lado, espetacularmente.
Essa inversão dá ao presidente da República, Jair Bolsonaro, uma oportunidade eleitoral explosiva. Não obstante seja o incumbente da vez, encarregado de cuidar da máquina pública, ele bombardeia a máquina pública todos os dias, sem tréguas. Seu lema é destruir a institucionalidade. Seu método é empregar o aparelho de Estado para demolir o aparelho de Estado. Com a aproximação das eleições, não rivaliza com os adversários ou com a oposição: sua guerra preferencial é contra as urnas eletrônicas e contra a Justiça Eleitoral. Ele não quer derrotar seus rivais, ele quer derrotar todo o sistema eleitoral.
Bolsonaro está em cruzada permanente. Na falta de um inimigo externo, elegeu o Supremo, a imprensa e os ecologistas, além de artistas, cientistas e intelectuais, como alvos prioritários. Ele não tem apenas uma “narrativa”, palavra mágica que seus apoiadores se comprazem em repetir: sua estratégia de comunicação consiste em convocar seus fanáticos para assumir o papel de protagonistas anônimos nas batalhas campais contra a lei e a ordem. Bolsonaro entrega às suas falanges, além das certezas feitas exclusivamente de mentiras (certezas que lhes acalentam a alma ressentida), a emoção de agir diretamente no combate discursivo, corporal e armado contra os inimigos da Pátria e de Deus. Esse combate não passa de um delírio, mas isso também não importa a mínima.
O que está vindo aí é uma onda, e essa onda pode crescer. Com sua lógica colada na dinâmica das redes sociais, o presidente aposta suas fichas na conflagração e no convulsionamento. O resultado não importa; o que lhe rende pontos é o movimento. Ele não tem nem precisa ter compromisso com a coerência ou com os fatos, pois sua fonte de energia política é a barulheira incendiária. Quanto ao mais, seus seguidores também não ligam para os fatos.
Estamos aprendendo, tarde demais, que não é por desinformação que muita gente o idolatra, mas por ódio a tudo o que seja informação. As multidões obcecadas pelo presidente abominam a verdade factual e, mais ainda, repudiam os que falam em nome da verdade factual. Para as massas ensandecidas e sedentas de tirania, a onda bolsonarista oferece uma paixão violenta e irresistível, que combina paixão e certezas irracionais, mais ou menos como se deu com o fascismo no século XX. O desastre quica na área.
“O trabalhador se sentirá autorizado a descontar no corpo de sua esposa toda a opressão vivida na cidade”, antecipa o cientista político Miguel Lago, um dos pouquíssimos que enxergam, ouvem e sentem o que está para desabar sobre a Nação. O alerta está no ensaio “Como explicar a resiliência de Bolsonaro?”, que faz parte do livro Linguagem da destruição (Companhia das Letras), que tem Heloisa Starling e Newton Bignotto como coautores. “O homofóbico se sentirá autorizado a espancar uma pessoa por sua orientação sexual”, prossegue Miguel Lago, desfiando a longa lista de “guardas da esquina”. Com a nossa pasmaceira hesitante e paralisante, nós estamos pagando para ver o pior acontecer.
*Eugênio Bucci é professor titular na Escola de Comunicações e Artes da USP. Autor, entre outros livros, de A superindústria do imaginário (Autêntica).