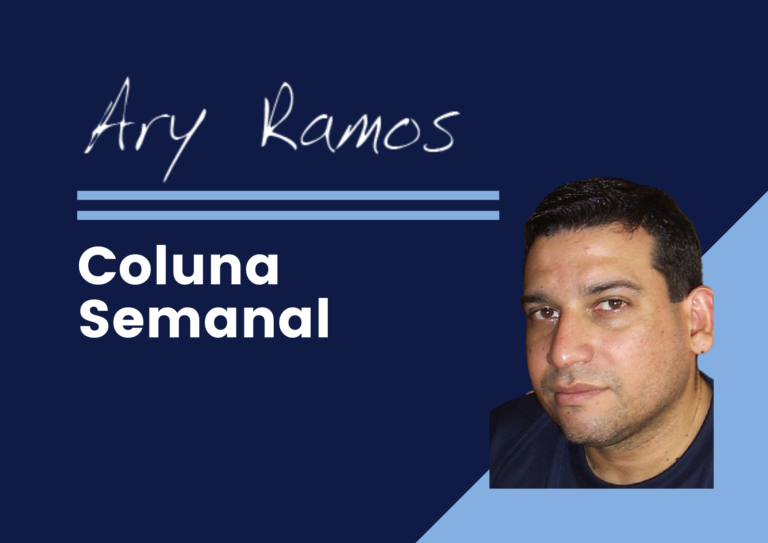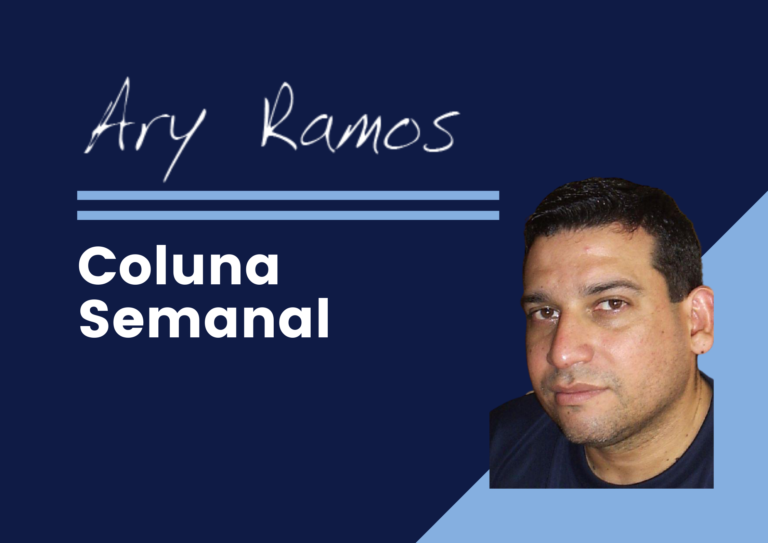Para o economista, que publicou em novembro o livro ‘O Anel de Giges’, elite brasileira ainda acredita poder transgredir leis impunemente
Luciana Dyniewicz, O Estado de S.Paulo – 05/02/2021
Ética é o tema central do último livro do economista Eduardo Giannetti O Anel de Giges, publicado em novembro.
Nele, o autor conta como diferentes correntes de pensamento abordam as respostas do homem para a certeza de impunidade. A obra é uma reflexão sobre “elementos universais da psicologia moral dos seres humanos”. “Embora esse livro não fale de Brasil, ele parte de uma experiência de um cidadão brasileiro, que percebe como a ética é talvez o fulcro maior das nossas dificuldades”, diz o economista.
Giannetti não trata de brasileiros nem de nenhuma sociedade específica, mas, quando questionado sobre os padrões éticos locais e atuais, afirma que o País está no século 18. “O Brasil vive o Antigo Regime, aquele mundo pré-revolução francesa, em que uma classe de pessoas ricas, poderosas e famosas se sente acima dos demais e acredita que pode, impunemente, transgredir normas e leis que regem a vida em sociedade.”
O economista diz também que acreditava que esse cenário poderia mudar com a Lava Jato, mas que o País acabou retrocedendo nos últimos anos. “(A Lava Jato) não teve sequência, não mudou as práticas políticas. Não construímos um regime que torne muito mais onerosa e custosa uma prática corrupta.”
Em Anel de Giges, o autor parte da fábula de Giges – relatada no livro República, de Platão -, em que um camponês encontra um anel que lhe dá o poder da invisibilidade. Sem censuras sociais e podendo violar a lei sem ser punido, Giges seduz a rainha, mata o rei e se apossa do trono. Giannetti questiona o que cada um de nós faria no lugar de Giges. Seríamos o “Giges-sem-lei”? Isto é, um Giges que age como “a fera da ambição desmedida”. Ou o “Giges-cristão”? Ou seja, um Giges que se abstém de usar o anel por ser livre de tentações. Giannetti, novamente, trata do homem de forma universal, mas, nesta entrevista ao Estadão, admite que o brasileiro pode ser um “Giges-sem-lei afetuoso”, mais passional e menos calculista.
No livro, o sr. afirma que ética e virtude não são mais frágeis que desonestidade e má-fé. Isso é válido para todas as sociedades independentemente dos períodos? Às vezes é difícil acreditar nisso quando vivemos momentos trágicos como o atual e vemos pessoas e governantes tirando vantagem sem nem mesmo precisar de um anel de Giges.
Esse livro não é referido a um contexto histórico. A palavra Brasil sequer ocorre no livro inteiro. Estou tentando pensar elementos universais da psicologia moral dos seres humanos. Aquela corrente do Giges-sem-lei, que começa com o Gláucon (irmão mais velho de Platão, que conta a história de Giges), em República, passa na filosofia moderna, entre outros, por Hobbes e Rousseau e reaparece na obra do Freud, toma a parte pelo todo. Ela se foca muito nos elementos antissociais da psicologia humana: agressividade, sexualidade abusiva, desejo de tirar proveito sem nenhuma preocupação com o outro. Ela não leva em conta que o ser humano tem um princípio de sociabilidade muito profundo. Nós buscamos construir vínculos densos de afetividade com pessoas que importam para nós. Isso foi completamente subestimado. O Giges-sem-lei que trata os outros de forma puramente instrumental e calculista termina solitário. Criando um deserto à sua volta. Ele está permanentemente em uma postura de manipulador. Procuro mostrar que essa concepção de felicidade é limitada. Ela não dá conta dos anseios constitutivos do ser humano. Adam Smith e David Hume colocam um contraponto. Hume fala de uma pessoa que tem todos os poderes do universo, mas que, enquanto não tiver uma pessoa com quem possa compartilhar isso de maneira sincera e espontânea, é o mais miserável dos homens. Adam Smith diz que o maior charlatão tem algum princípio na sua constituição psicológica que o leva a ter algum grau de empatia com os demais. (O homem) não é totalmente isolado dos sentimentos morais da comunidade.
Por outro lado, o sr. também coloca críticas ao Giges de Platão e ao Giges-cristão.
Eles colocam demandas sobre-humanas para que alcancemos um ideal de perfeição ética completamente irreal, dada a nossa psicologia moral e dado o nosso psiquismo arcaico, que é herdado do ambiente evolucionário. Assim como nosso corpo é uma relíquia de tempos ancestrais – ele foi moldado ao longo de um processo evolutivo de centenas de milhares de anos -, algo semelhante ocorre em relação à psique humana. Ela foi moldada ao longo de um processo evolutivo. Nós somos herdeiros de um psiquismo arcaico, que não escolhemos ter. Essas duas correntes filosóficas e Kant também ignoram por completo esse psiquismo arcaico do qual nós somos herdeiros independentemente da nossa vontade. São partes constitutivas do nosso ser. Não são visíveis a olho nu como é o nosso corpo, mas pertencem a nós e são parte da nossa interioridade. Muitas das pulsões antissociais que temos são fruto dessa herança evolutiva.
Apesar de o livro não tratar de uma sociedade específica, é possível relacioná-lo à nossa sociedade?
Tem dois vínculos que dá para fazer entre os temas do livro e a realidade brasileira. O primeiro é que o Brasil ainda parece ser um país que vive o Antigo Regime, aquele mundo pré-revolução francesa, em que uma classe de pessoas ricas, poderosas e famosas se sente acima dos demais e acredita que pode, impunemente, transgredir normas e leis que regem a vida em sociedade. A palavra privilégio, a etimologia dela, vem daí. Privilégio é uma lei privada que não se aplica a todos. Muitas autoridades e pessoas poderosas acreditam que sua condição lhes dá o privilégio de fazer impunemente ações que agridem os direitos dos demais. Tem tantos exemplos, de foro privilegiado, de supersalários, autoridades que afrontam a polícia, que abusam de todas as prerrogativas para exercer os seus desmandos. Vou ler um trecho de um romance do Marquês de Sade que cito no livro. O Marquês de Sade está descrevendo o que era o mundo do Antigo Regime francês e coloca na boca de um de seus personagens, Verneuil, a presunção de quase irrestrita impunidade da elite aristocrática, dos ricos, poderosos e famosos daquela época. Ele diz: ‘É impossível que as leis sejam igualmente aplicáveis a todos os homens. Esses remédios morais não são diferentes dos remédios físicos: não nos riríamos de um curandeiro que, possuindo apenas um remédio para todos os fregueses, tratasse um estivador da mesma forma que a uma solteirona frívola? Claro que sim! As leis são feitas somente para gente comum, os que necessitam de restrições e que nada tem a ver com o homem poderoso, a quem elas não dizem respeito. Em qualquer governo, o essencial é que o povo jamais invada a autoridade dos poderosos.” Isso é a presunção de impunidade e a condição de privilégio da elite do Antigo Regime. Eu acredito que o Brasil ainda vive isso em grande medida. Boa parte da nossa elite acredita que a lei é para os outros, para o povão. Aproveita qualquer situação para abusar da condição de privilégio que têm.
O livro traz um experimento de impunidade real, em que foram analisados diplomatas que podiam estacionar em locais proibidos em Nova York sem serem multados. O sr. não cita como os brasileiros se comportaram, mas, pelo experimento, eles tiveram uma média de 29,9 infrações por diplomata e ficaram na 29ª posição no ranking dos mais corruptos, entre 146 nacionalidades. O sr. afirma que a adesão às normas, mesmo quando se tem impunidade, depende da existência de uma rede de crenças morais compartilhadas pelas pessoas. Isso significa que no Brasil haveria um menor compartilhamento?
Outro tema que liga (o livro) com o Brasil é um fenômeno que chamei de “paradoxo do brasileiro”. Cada brasileiro, individualmente, acredita ser muito distinto de tudo o que vê ao seu redor. Ele vê um mundo de corrupção, de abuso de autoridade, de desmandos, de incompetência. Mas todos nós nos achamos, de alguma maneira, diferentes e superiores a tudo isso. No entanto, todos nós juntos somos exatamente tudo isso que aí está. Isso é um paradoxo.
Temos um ponto cego em relação a nós mesmos e um olho de lince em relação às falhas dos demais. Eu posso te dar depoimento como professor, por 30 anos, do que eu vi em sala de aula, mas tem mil outras situações. Os alunos vão às ruas, protestam contra corrupção, exigem ética na política, querem mudar o modo como se governa o Brasil. Tem de fazer isso mesmo. Essa indignação é o que pode mudar as coisas. No entanto, esses mesmos alunos, quando termina o ano e eu vou dar a prova, começam a colar e não percebem que essas duas coisas são incompatíveis. Você não pode estar um dia na rua pedindo ética na política e, quando chega o momento de dar o exemplo mais comezinho de comportamento ético, pisa na bola. Será que esses jovens não ligam as pontas? Não percebem que esse exercício de racionalização do seu próprio caso individual é que vai levando a essa situação que é tudo isso que aí está? Quem começa colocando na faculdade daqui a pouco está roubando no Congresso, fraudando Orçamento. E vai racionalizando o seu próprio caso com enorme criatividade: ‘é um pecadilho, está todo mundo fazendo’. O Brasil sempre foi assim.
Quem é o mestre na descrição disso é o Machado de Assis. Por isso, eu dediquei um capítulo a ele, que mostra no detalhe, até com certo sadismo, a nossa riquíssima vocação para a desonestidade criativa. Nós nos justificamos aos nossos próprios olhos naquilo que nós fazemos de errado. As pessoas não se percebem como parte do todo e não percebem que o que aí está é o resultado de todos nós juntos. Eu não me excluo desse paradoxo. Sou parte dele.
Mas isso não significa que compartilhamos menos uma rede de crenças morais.
Aí é uma coisa delicada. Tem um filósofo inglês do século 18, Joseph Butlin, que tem uma colocação que não está no livro, mas vai muito nessa pergunta. Ele questiona o seguinte: qual é o padrão de moral vigente em uma sociedade?
Ele fala: se você quer saber qual é o padrão das crenças compartilhadas em um determinado agrupamento humano, basta observar o que estão todos se esforçando em parecer que são: honestos, competentes, cumpridores do dever, atenciosos. O hipócrita e o corrupto sabem melhor do que ninguém quais são as crenças morais compartilhadas socialmente, mesmo que não as pratique. A prova disso é que eles são hiper cuidadosos quando se trata de ocultá-las e de não se traírem aos olhos dos demais. Isso é a demonstração de que eles sabem e compartilham, embora não pratiquem. Os brasileiros sabem o que é certo e o que é errado. Por isso que os hipócritas e corruptos se dão tanto ao trabalho de ocultar as práticas que cometem. A Lava Jato foi um exemplo monumental disso. Quantos de nós no Brasil poderíamos supor que, ao longo de tantos anos, a Petrobrás tinha se tornado o que ela mostrou ter se tornado. Foi preciso um trabalho de investigação para que aquilo aflorasse. As pessoas que estavam ocultando sabiam perfeitamente quão errado era aquilo. Acho que uma característica histórica e de origem da formação social e cultural brasileira é um individualismo exacerbado. As pessoas pensam em si e nas suas famílias. Para os amigos, tudo; para os inimigos, a lei. É um fenômeno chamado de familismo amoral. É desse individualismo anárquico que resulta nossa dificuldade em ter instituições, em ter comportamentos que nos permitam nos reconhecermos como coletividade. Não é um problema original do Brasil. O Sólon, legislador e poeta ateniense, responsável pela primeira constituição democrática do Ocidente, tem um verso que acredito que se encaixe como uma luva para a experiência brasileira. Ele está falando dos atenienses no século 6 AC: “Cada um de vós em separado tem a alma astuta da raposa, mas, todos juntos, sois como um tolo de cabeça oca”.
Isso significa que, no Brasil, o Giges-sem-lei tem uma certa predominância?
Há uma sensação de impunidade por parte de um contingente fundamental da sociedade, principalmente na elite. Ao mesmo tempo, há uma outra característica da cultura brasileira que é a cordialidade, no sentido em que o Sérgio Buarque de Holanda definia, que não é ser afetuoso ou bonzinho. É a prevalência das emoções e dos impulsos no comportamento acima de qualquer consideração sobre regras impessoais e sobre princípios universais. Isso não é bem o Giges-sem-lei. O Giges-sem-lei é um manipulador, um calculista, uma pessoa muito ciosa de uma certa racionalidade instrumental, que procura o benefício individual sem se importar com as leis e com o direito alheio. O brasileiro é um Giges-sem-lei afetuoso, passional.
O sr. citou a Lava Jato, que talvez tenha sido a primeira vez em que os brasileiros viram ricos e poderosos sendo condenados. Antes, era como se eles fossem impunes, usassem o anel de Giges. Como vê isso após a operação?
Retrocedemos na política e na Justiça. Fui muito esperançoso em relação à Lava Jato como um divisor de águas, como foi a redemocratização e o Plano Real. Infelizmente, não foi o caso. Não teve sequência, não mudou as práticas políticas, não construímos um regime que torne muito mais onerosa e custosa uma prática corrupta. Há um abafamento e até um retrocesso em relação às punições. A coisa foi se perdendo ao longo do caminho e ficou muito mais complicada por conta da eleição de 2018 e toda a polarização raivosa que tomou conta da política brasileira. Agora, eu insisto: tenho muitas vezes a clara percepção de que o Brasil, em grande medida, vive ainda uma situação de Antigo Regime pré-Revolução Francesa. E vejo que ondas de insatisfação vem se sucedendo na vida brasileira. Nós tivemos junho de 2013. Depois, a onda anti-establishment político que quase elegeu a Marina Silva em 2014. Tivemos a onda que gerou o impeachment da Dilma. A greve dos caminhoneiros. Por fim, a eleição do Bolsonaro, que foi uma onda violentíssima também anti-establishment político, antipetismo, mas que manifestou de maneira eloquente o descontentamento e a insatisfação de um segmento majoritário e amplo da sociedade brasileira. Será que essas ondas terminaram? Tendo a crer que não. Tendo a crer que essas ondas são movimentos sucessivos e que estão levando a uma situação de ruptura. É um movimento característico de sociedades que caminham para um fim de antigo regime, que está sendo colocado em cheque. Como é que o Estado brasileiro arrecada 33% do PIB em impostos e, em pleno século 21, quase a metade dos domicílios não tem coleta de esgoto? Eu não estou manifestando um desejo por isso. Estou observando friamente um movimento. O Estado brasileiro não representa os anseios e as demandas legítimas da sociedade brasileira. Nós tivemos esquerda, direita, democracia, autoritarismo. Tivemos tudo, e os problemas fundamentais não foram atendidos. Ensino fundamental de qualidade universal, saneamento básico, segurança pública, transporte coletivo. É uma situação que não se sustenta indefinidamente.