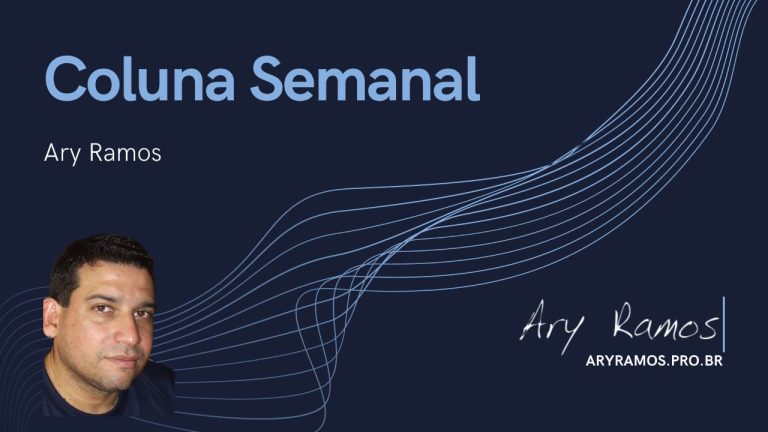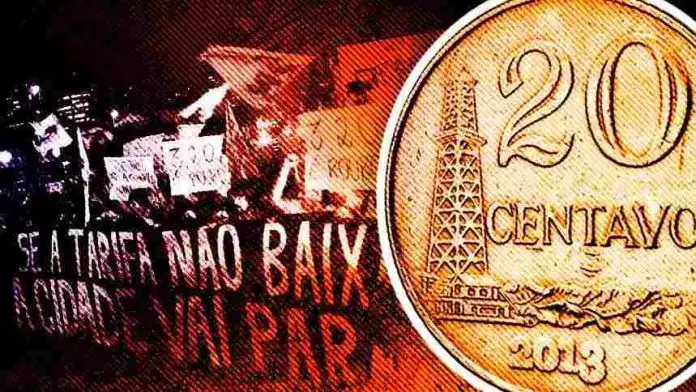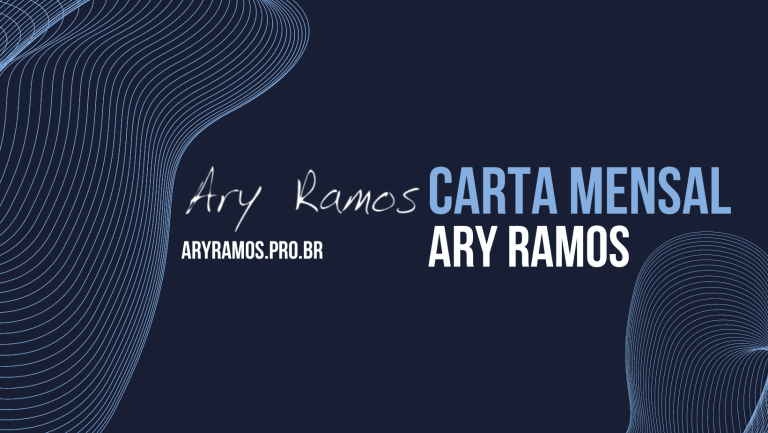Novo livro analisa os gigantescos protestos que abalaram o país. Ao catalisarem insatisfações para além do preço da tarefa, tornaram-se expressão da luta por democracia real. E produziram fissuras que ainda hoje marcam a política nacional
Roberto Andres – Outras Palavras – 19/06/2023
“Fechem os olhos e imaginem. Imaginem uma cidade como São Paulo, sem tarifa, sem catraca, cada um acessando o transporte livremente. Imaginem a mudança na vida das pessoas. Quantas coisas seriam feitas, o impacto na economia. Muda tudo. A tarifa zero muda tudo.” Umas vinte pessoas em uma sala improvisada no Centro Cultural São Paulo fecharam os olhos e imaginaram. Quem falava era Lúcio Gregori, um senhor de cabelos grisalhos penteados para trás, óculos grandes e camisa social abotoada até o colarinho. Era outubro de 2010.1 Em poucos dias, Dilma Rousseff seria eleita presidenta. A sinfonia que tocava no país era a do espetáculo do crescimento.
O público era pequeno, mas o palestrante não pregava para convertidos. Boa parte ali desconhecia a história que ele protagonizara duas décadas antes. Era surpreendente que uma proposição tão radical fosse tão esquecida. Em 1990, Gregori foi nomeado secretário de Transportes da cidade de São Paulo, no governo de Luiza Erundina, do PT. Tendo caído meio que por acaso na pasta e, sem muito a perder, fez uma proposta ousada à prefeita: financiar indiretamente o sistema de transporte e zerar a tarifa, assim como ocorria com os serviços de educação, saúde, iluminação pública e coleta e tratamento de lixo.
A proposta causou polêmica dentro do governo e do PT, mas acabou sendo abraçada pela prefeita. Assim, durante o ano de 1990, a sociedade paulistana debateu a sério uma proposição de acesso gratuito ao transporte público, que seria financiado pelo aumento da arrecadação do IPTU, de forma progressiva. Naquele momento, nenhuma cidade no Brasil adotava a medida. Os registros indicam que a política era oferecida em apenas seis cidades no mundo – três na França e três nos Estados Unidos, todas com menos de 100 mil habitantes, e uma delas oferecia a política somente durante o verão.
O contexto que permitiu tamanha ousadia será analisado adiante, assim como as condições que faltaram para que a proposta fosse aprovada na Câmara de Vereadores. Após o fim do governo Erundina, Lúcio Gregori saiu de cena. Foi prestar serviços técnicos para empresas e órgãos públicos, e depois se aposentou.3 Como a proposta de gratuidade dos ônibus não foi bem sucedida, ela ficaria na geladeira por um bom tempo.
Em 2010, quando o engenheiro incitava a imaginação de alguns poucos no Centro Cultural São Paulo, havia dez cidades com Tarifa Zero no Brasil. Todas pequenas, com menos de 50 mil habitantes. Em 2022, a Tarifa Zero no transporte público era realidade em 52 cidades brasileiras, atendia 2,5 milhões de pessoas e foi pauta central na eleição em que o país derrotou o autoritarismo e elegeu Lula pela terceira vez. Entre um momento e outro, ocorreram as Revoltas de Junho.
***
Uma propaganda feita pelo governo Erundina a favor da Tarifa Zero marcou a memória das pessoas atuantes no período. Era um comercial, veiculado na TV, que utilizava como personagem uma criança de um ano. O argumento da peça era que, embora não se servisse do transporte, o bebê teria acesso a mais alimentos e brinquedos graças ao dinheiro que seus pais economizariam ao não pagarem a passagem. A publicidade contribuiu, junto a outros elementos da campanha, para gerar uma maioria favorável à política na cidade.
O bebê da propaganda poderia ter sido Mayara Vivian. Sua família possuía o perfil social dos que seriam beneficiados pela gratuidade do transporte. Moradores da Zona Leste da cidade, atuavam em profissões de remuneração baixa ou média, e se locomoviam por transporte público. Mayara ia para a escola de ônibus, e foi a primeira da família a chegar à universidade. Em 1990, enquanto a prefeitura tentava emplacar a Tarifa Zero, ela tinha um ano de idade.
Quinze anos depois, ela passou um sábado de verão junto a colegas do movimento estudantil sob uma tenda em um parque de Porto Alegre. Sentados em cadeiras de plástico e enfrentando o calor intenso por mais de seis horas de plenária, uma centena de jovens presentes fundou o Movimento Passe Livre, o MPL. A maior parte deles nunca tinha ouvido falar da história de proposição da Tarifa Zero em São Paulo. Naquele momento, a pauta do grupo era o passe livre estudantil.
Isso foi em 29 de janeiro de 2005. A plenária fez parte do 5º Fórum Social Mundial, que retornava à capital gaúcha depois de uma edição em Mumbai, na Índia. O evento estava em seu período de ouro, e contou com a presença de figuras expressivas da esquerda mundial, como Eduardo Galeano, José Saramago, Lula e Hugo Chávez. A tenda onde ocorreu a plenária de fundação do MPL foi chamada de “caracol intergaláctica”, e abrigou uma programação alternativa, de corte autonomista. Os jovens ali reunidos eram uma parte marginal do festejado evento de esquerda. Seria risível se alguém dissesse que o movimento fundado por eles iria abalar o Brasil daí a oito anos, e contribuir para encerrar o ciclo de hegemonia dos governos petistas.
O MPL nascia das revoltas contra aumentos tarifários ocorridas nos anos anteriores. Seus protagonistas eram estudantes, alguns ligados à esquerda partidária, outros ao autonomismo. A Revolta do Buzu, em Salvador, em 2003, inaugurou uma nova leva de rebeliões pelo transporte, depois de um período de calmaria. A Revolta da Catraca, ocorrida em Florianópolis em 2004, deu um passo adiante: conquistou a redução da tarifa depois de vários dias de protestos. Embalados pela vitória, os militantes da capital catarinense lideraram a articulação de um movimento nacional pelo transporte, que resultou no encontro de Porto Alegre. Mayara Vivian e seus colegas de São Paulo, que haviam fundado um movimento pelo passe livre no ano anterior, viajaram quase 24 horas de ônibus para chegar à capital gaúcha.
O ano de 2005 assistiu à emergência de tendências conflitantes, que colidiriam em pouco tempo. De um lado, uma juventude que ampliava sua organização na luta pelo transporte e pelo direito à cidade9; de outro, o abandono dessa agenda pelo governo federal. Em junho daquele ano veio à tona o escândalo chamado de Mensalão, um esquema de compra de votos de parlamentares pelo Executivo federal. Foi o primeiro caso vultoso de corrupção do governo Lula, e causou grande impacto.
Para garantir sustentação política no Congresso, Lula entregou o comando do Ministério das Cidades para o PP, partido derivado de setores da Arena, legenda de sustentação do regime militar. As lideranças do PP incluíam o ex-governador de São Paulo, Paulo Maluf, e o então presidente da Câmara, Severino Cavalcanti. A mudança foi um cavalo de pau. Criado no primeiro dia do governo petista, o Ministério das Cidades prometia enfrentar a aguda crise urbana brasileira. Seu primeiro ministro foi Olívio Dutra, ex-prefeito de Porto Alegre e ex-governador do Rio Grande do Sul, que montou uma equipe com figuras de relevo no debate urbano.
A primeira gestão do Ministério das Cidades estruturou processos participativos e elaborou diretrizes de políticas que, se implementadas, poderiam remediar os graves problemas de mobilidade urbana, habitação, saneamento e precariedade dos bairros. Mas pouco disso saiu do papel. Após a substituição no comando da pasta, as proposições mais transformadoras foram dando lugar a uma agenda conservadora, em muitos aspectos próxima àquela implantada durante a ditadura.
Isso ocorreu junto a uma guinada na política econômica do governo. O primeiro governo Lula fora marcado pela austeridade e contenção de gastos. A partir de 2007, a toada foi de expansão fiscal e crescimento dos investimentos públicos. Quando a torneira do governo se abriu, já prevalecia no Ministério das Cidades uma visão pautada pelos interesses de grandes empreiteiras e outros atores do andar de cima. As diretrizes progressistas estabelecidas pelos processos participativos foram deixadas de lado.
É notável que a fundação do MPL tenha se dado na mesma Porto Alegre em que Olívio Dutra desenvolvera algumas das políticas mais exitosas das gestões municipais petistas. Em 2005, a tentativa de replicação nacional dessas políticas foi sepultada. A crise das cidades e do transporte urbano se acirrariam nos anos seguintes. As respostas do governo seriam tímidas ou andariam na contramão. Enquanto isso, os movimentos pelo transporte aumentariam seu poder de mobilização. O choque não tardaria a ocorrer.
***
Um dos principais argumentos deste livro é que as Revoltas de 2013 ocorreram pela colisão de tendências conflitantes, que remetem ao período da redemocratização e ganharam força durante os governos petistas. Essas contendas extravasam as disputas entre capital e trabalho. Talvez sejam melhor compreendidas na chave da disputa entre formas de vida, que dizem respeito ao conjunto de práticas que moldam o cotidiano, e que são objeto de conflitos quando as sociedades se transformam.10 As formas de vida se estruturam pela organização territorial.
Por isso, a compreensão de Junho de 2013 demanda um olhar para a urbanização sui generis brasileira e suas implicações na vida cotidiana, na manutenção das desigualdades, no tecido social e na política. Entre 1940 e 1980, o Brasil teve uma das maiores taxas de urbanização de que se tem notícia no mundo. O número de moradores nas cidades saltou de treze milhões para mais de 80 milhões de pessoas. Esse processo se deu com atuação seletiva do Estado, cujos investimentos nas áreas centrais destoaram em muito das periferias, marcadas pela precariedade, pela carência de serviços públicos e de oportunidades de emprego
Para os moradores dos bairros populares, estabeleceu-se uma dependência exacerbada do transporte coletivo, ao mesmo tempo em que este nunca foi estruturado como um serviço público essencial. Como resultado, o transporte tornou-se um elemento de martírio – atrasos, veículos lotados, longo tempo das viagens. Aqueles que não tinha condições de pagar as tarifas ou de viajar por longas horas tornavam-se “prisioneiros do espaço local”, como formulou o geógrafo Milton Santos.11 De tempos em tempos, a insatisfação com esse estado de coisas explodia em revolta súbita e violenta, que veremos ao longo do livro.
O automóvel teve seu papel na dinâmica, ao oferecer às classes mais altas a possibilidade de viajar mais rápido e longe dos pobres. Em uma sociedade segregada como a brasileira, o transporte público nunca foi um problema dos ricos. Mas o crescimento das frotas de veículos impacta os ônibus, devido ao aumento dos congestionamentos. Ou seja, quanto mais gente migra para os carros, pior fica a condição dos que não migram. Os períodos históricos de incremento das frotas foram sempre seguidos de crise do transporte público. Os governos petistas, que produziram o maior boom de carros da história do país, e não levaram adiante políticas consistentes para o transporte público, armaram uma bomba que não tardaria a explodir.
O legado deixado pela ditadura civil-militar no Brasil foi muito além da cultura autoritária que ainda hoje nos assola. Ou, dizendo de outro modo, essa cultura autoritária, patrimonial e elitista foi estruturada junto a uma forma de organização territorial, política e produtiva que tornou-se o solo da vida cotidiana. A forma das cidades, a alta desigualdade e segregação, a forma de operação do transporte público, os privilégios concedidos aos automóveis, a formação de um empresariado nacional próximo ao poder político que se beneficiava do arranjo – empreiteiras, mercado
imobiliário, montadoras de carros, empresários do transporte. Tudo isso constituiu a base infraestrutural que informa as possibilidades das formas de vida, da economia e da política.
Em um contexto de abertura e redemocratização, a manutenção da ordem das coisas se deu por meio do fechamento em enclaves. Aos muros dos condomínios e shopping centers, que se multiplicaram desde os anos 1980, minando a convivência nos espaços públicos, somaram-se outros. O sistema político, operando uma transição morna para a democracia, fechou-se em condomínios de poder. Os empresários do transporte aumentaram sua influência sobre a política e garantiram suas receitas mesmo em contexto de piora dos serviços. O mesmo se deu em outros setores, como saúde, educação e segurança, em que a elite buscou manter opções privatistas e nichos de privilégio.
Esse acúmulo de muramentos conviveu com uma tendência oposta, de abertura e modernização. Esta se expressou já na grande pulsação da sociedade nos movimentos das Diretas Já e durante a Assembleia Nacional Constituinte. Um conjunto expressivo de direitos foi colocado na arena pública naquele momento, e pautou o texto constitucional. Durante os governos petistas, essa força progressista ganhou escala e passou a abarcar outros temas, ligados ao espírito do tempo e a uma sociedade que se transformava rapidamente.
O lulismo acelerou as duas tendências, contribuindo para que a colisão fosse mais forte.
***
As Revoltas de 2013 resultam de linhas históricas distintas, que se juntaram e formaram um híbrido novo. Trata-se da conjunção de ciclos de luta de longo, médio e curto prazo. O primeiro é a tradição de rebeliões pelo transporte, que remete ao período imperial e atravessou o século 20, sempre intercaladas por períodos de mansidão. O segundo é o conjunto de manifestações políticas massivas ocorridas desde a redemocratização, que teve as Diretas Já em 1984 e o Fora Collor em 1992. O terceiro são as mobilizações pelo direito à cidade, por questões ambientais e pela chamada agenda de costumes que emergiram por volta de 2010. Por fim, há ainda os protestos contra a corrupção que ganharam força a partir de 2011.
Essas vertentes desembocaram simultaneamente em Junho de 2013, de maneira inesperada e rara. Não é todo dia que condições históricas que fazem despontar manifestações tão variadas coincidem no tempo. A confluência de afluentes tão díspares formou o rio revolto e incompreendido de Junho – até hoje um enigma, que este livro busca ajudar a decifrar.
Quando comparadas a cada uma de suas antecessoras nas diferentes linhas históricas, as Revoltas de Junho apresentam particularidades, resultantes da hibridização. O país conviveu desde o período imperial com rebeliões populares contra aumentos tarifários ou más condições do transporte público. Como veremos, esses motins ficaram majoritariamente restritos a setores populares de baixa organização, com semelhanças com o que o historiador Eric Hobsbawm caracterizou como turbas urbanas.12 No ciclo que culminou em 2013, as revoltas pelo transporte ganharam a adesão de setores de maior politização e capacidade de disputa. No centro disso esteve a atuação do MPL e outros movimentos do período.
Os dois primeiros governos presididos por Lula ocorreram junto a – e contribuíram para – uma transformação profunda da sociedade brasileira. A redução da pobreza, o aumento do acesso à educação e à cultura, a difusão da internet e a maior mobilidade internacional produziram uma nova geração com visões de mundo distintas da anterior. As aspirações deram um salto de patamar. Tudo isso ocorreu em paralelo ao fortalecimento de tendências conservadoras, de manutenção do status quo na política, na economia e nos territórios.
As colisões se iniciaram já por volta de 2010. Emergiram mobilizações pelo uso compartilhado dos espaços públicos urbanos, pela qualidade ambiental nas cidades, contra intervenções decididas de cima para baixo e seus impactos na vida social, como as remoções de moradores pobres por obras ligadas à realização da Copa do Mundo no Brasil. Esses movimentos atingiram escalas variadas, e formaram um caldo que fervilhou em Junho, trazendo uma miríade de perspectivas sobre a vida coletiva para as ruas.
Embora hoje isso pareça corriqueiro, o fenômeno foi novo. Marcado historicamente por um déficit de cidadania, o Brasil assistiu pela primeira vez à expressão pública de um conjunto de demandas sobre a vida compartilhada nas cidades. Tudo isso produziu fissuras na hegemonia vigente, apontando, já nos anos que antecederam 2013, que o modelo de desenvolvimento estava desencaixado das aspirações de diversos setores. Também nessa linha, emergiram mobilizações pelos direitos das mulheres, contra a lgbtfobia e pela liberdade no uso de drogas; além de movimentos contra a corrupção, em contraposição à arraigada blindagem do sistema político brasileiro, que se mantinha firme e forte enquanto a sociedade se modernizava.
A conjunção desses temas fez com que Junho representasse uma importante diferença em relação aos outros dois grandes ciclos de manifestações anteriores. As Diretas Já, em 1984, e o Fora Collor, em 1992, embora tenham expressado certa pluralidade de demandas, foram articulados em torno de pautas objetivas: o direito às eleições abertas para presidente e a deposição de um presidente eleito. Em suma, a primeira delas procurava estabelecer regras justas para o jogo democrático, e, a segunda, que essas regras fossem cumpridas em acordo com a vontade popular.
Em 2013, o sentido das manifestações foi além do jogo democrático. Tratou-se de denunciar o déficit e reivindicar o aprimoramento da vida democrática, o que inclui o sistema político, mas também elementos da vida urbana, das condições ambientais, da agenda de costumes e do acesso a serviços públicos, centrais para uma cidadania plena. Esses elementos compõem aquilo que a filósofa Nancy Fraser chamou de lutas de fronteira14, que ocorrem nas bordas da economia capitalista com suas condições de fundo.
A diversidade de pautas contribuiu para que as manifestações de 2013 ficassem sem nome de batismo. Essa é uma diferença marcante em relação aos eventos anteriores. Ninguém se refere às Diretas Já ou ao Fora Collor pelo mês em que explodiram – abril de 1984 e agosto de 1992. Em 2013, não houve uma pauta guarda-chuva que nomeasse o ciclo. A “Revolta dos Centavos” não pegou, já que a pauta se diversificou justamente quando os atos cresceram. Por falta de um nome descritivo, “Junho de 2013” virou nome próprio, assim como seu antecedente mais conhecido – o “Maio de 1968” francês.
O nome próprio que não apresenta um sentido político sustenta o caráter enigmático de Junho, que permaneceu em disputa nos anos seguintes. À direita e à esquerda, emergiram leituras distintas sobre o fenômeno, que veremos ao longo do livro. Aqui, importa notar que as revoltas de 2013 sacudiram profundamente as estruturas da política e da sociedade brasileira. Trata-se daquele tipo de evento histórico que divide o mundo entre o antes e o depois. Como as infraestruturas do mundo físico não se alteram de um dia para o outro, o que se transforma rapidamente são as mentalidades, a percepção social sobre a realidade, e as correlações de força da política.
Depois de 2013, o Brasil passou por um dos períodos mais conturbados de sua história. Visto hoje, o 7 a 1 sofrido na partida contra a Alemanha na Copa de 2014 parece um presságio do que viria. Uma eleição marcada pela alta carga agonística, estelionato eleitoral, crise econômica, uma nova direita nas ruas, Operação Lava Jato, impeachment sem crime de responsabilidade, um presidente sem votos e impopular. Tudo isso desembocou na eleição para presidente, em 2018, de um ex-capitão do Exército saudosista da ditadura que, embora fosse deputado havia quase três décadas, se apresentava como alguém de fora da política.
***
Em dezembro de 2019, Lula saíra da prisão havia um mês. Após 580 dias recluso por uma condenação de viés político, o ex-presidente retomava as atividades públicas. Em um entrevista à TeleSur, ele afirmou que “as manifestações de 2013 foram feitas já fazendo parte do golpe contra o PT. […] Elas não tinham reivindicações específicas.”15 Não era a primeira vez que Lula trazia essa perspectiva. Em 2017, ele dissera que “nos precipitamos ao achar que 2013 foi uma coisa democrática. Que o povo foi para a rua porque estava muito preocupado com aquela coisa do transporte coletivo”.
Esse posicionamento diferia daquele feito à época dos protestos, quando o ex-presidente saudou a vitalidade das ruas e afirmou que, “de protesto em protesto a gente vai consertando o telhado”.17 A mudança de posição veio junto da derrocada do PT, alvejado pela Operação Lava Jato e pela crise econômica. Lula, claro, não foi o único na esquerda que voltou as cargas contra Junho. Choveram comentários nessa linha, que questionavam as razões das manifestações e traçavam uma linha direta entre o resultado delas e o golpe parlamentar que derrubou Dilma Rousseff, em 2016.
As inconsistências dessa perspectiva são significativas. As razões das Revoltas de 2013 dizem respeito ao choque entre tendências conflitantes, que foram notadas também por intelectuais dos círculos petistas.18 Elas fizeram parte de um ciclo internacional, que ocorreu em diversos países. A ideia de que o sentido majoritário das manifestações teria sido apropriado pela direita encontra pouco lastro nos dados, fatos e registros, conforme veremos. E o estabelecimento de causalidade direta entre um acontecimento ocorrido em 2013 e outro em 2016, sem analisar o que se passou no meio, carece de sentido.
Só foi possível que uma abordagem desse tipo ganhasse espaço pelo caráter difuso das Revoltas de 2013, que não se organizaram em torno de um objetivo central. Ou seja, foi justamente por ser uma espécie de esfinge que Junho se tornou um bode expiatório. No conhecido mito grego, um ser alado com corpo de leão e rosto de mulher se colocava à entrada da cidade de Tebas, e detinha os passantes com a pergunta: qual é o ser que pela manhã tem quatro pés, ao meio dia tem dois, e à noite tem três? Decifra-me ou te devoro, dizia a esfinge, antes de aniquilar os que não sabiam respondê-la. No rito do povo hebreu, dois bodes eram levados a um templo. Um deles era sacrificado enquanto outro recebia simbolicamente as culpas da comunidade – e depois era abandonado no deserto.
No Brasil, Junho seguiu um fenômeno indecifrado. E muitos buscaram expiar a culpa dos descaminhos do país apontando que “tudo isso começou por vinte centavos”. O procedimento, que ganhou a adesão de nomes relevantes da esquerda brasileira, jogava parte das lutas sociais no deserto, onde deveriam carregar a culpa dos erros coletivos.
Talvez o principal problema desse raciocínio seja que as Revoltas de Junho, assim como outros ciclos similares, não são o ponto de partida de um processo, mas pontos de inflexão resultantes de acontecimentos anteriores. Não foram inventados por manifestantes voluntaristas, mas são resultado das dinâmicas social e política. Não são, tampouco, a panaceia dos problemas nacionais. Se os anseios colocados nas ruas não tiverem canalização política e institucional, eles não serão resolvidos – e o impasse pode abrir espaço para que alternativas distorcidas capturem o sentimento de mudança frustrado.
Esse tipo de narrativa que se disseminou no Brasil não teve paralelo em outros países. Nos Estados Unidos, não se acusou o Occupy Wall Street de ser responsável pela ascensão de Donald Trump. Na Espanha, não se acusou o 15M de chocar o ovo da serpente que levou ao crescimento da extrema direita. No Chile, os estallidos sociais de 2011 e 2019 não foram colocados como gênese do fortalecimento da extrema-direita – ao contrário, a eleição de Gabriel Boric para a presidência, em 2022, um líder da revolta de 2011, mostrou justamente que o fenômeno fez surgir uma nova esquerda no país.
O contexto que levou à ruptura da esquerda brasileira em torno de Junho de 2013 é complexo, e será analisado ao longo do livro. Não há bandidos ou mocinhos na história – o que há são escolhas, baseadas em apostas mais ou menos acertadas, cuja conjunção levou aos resultados que conhecemos.