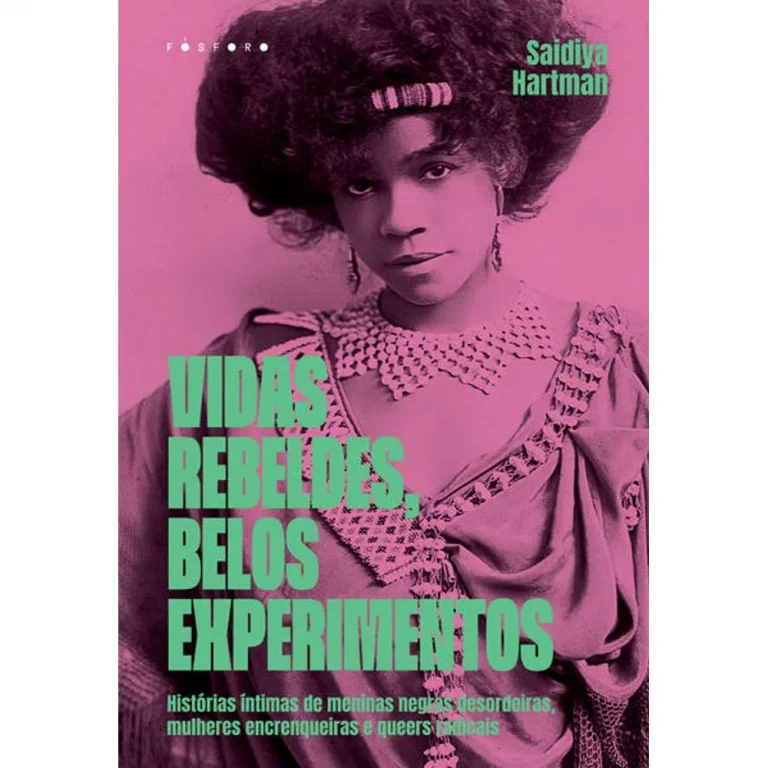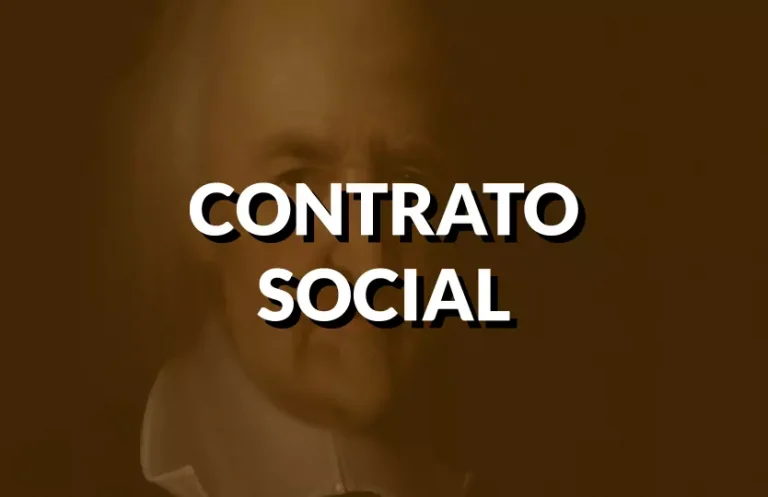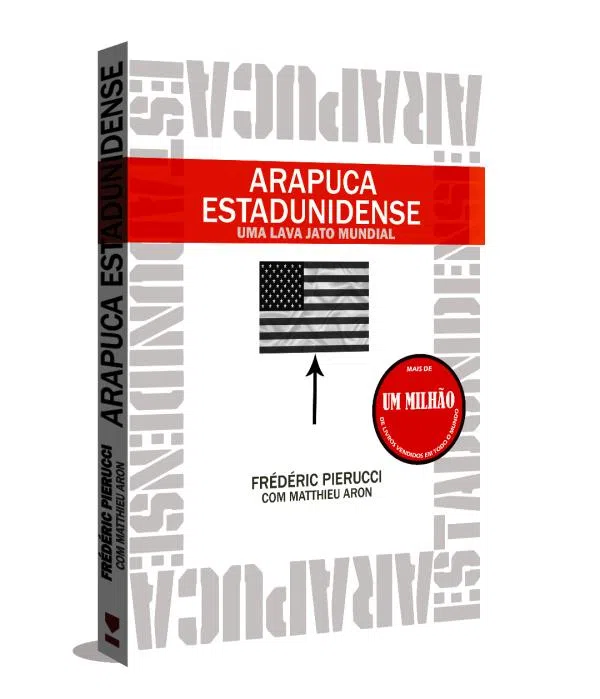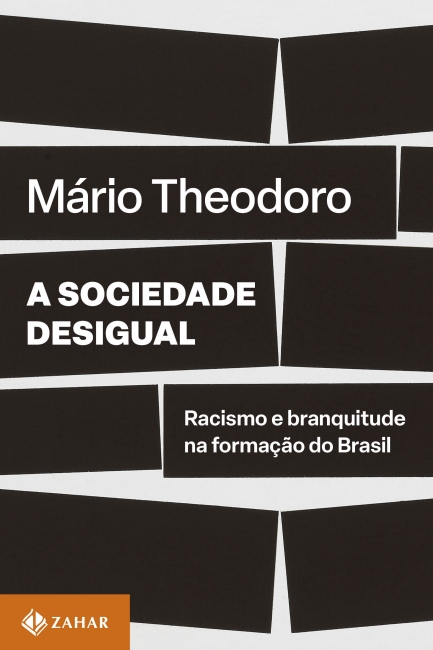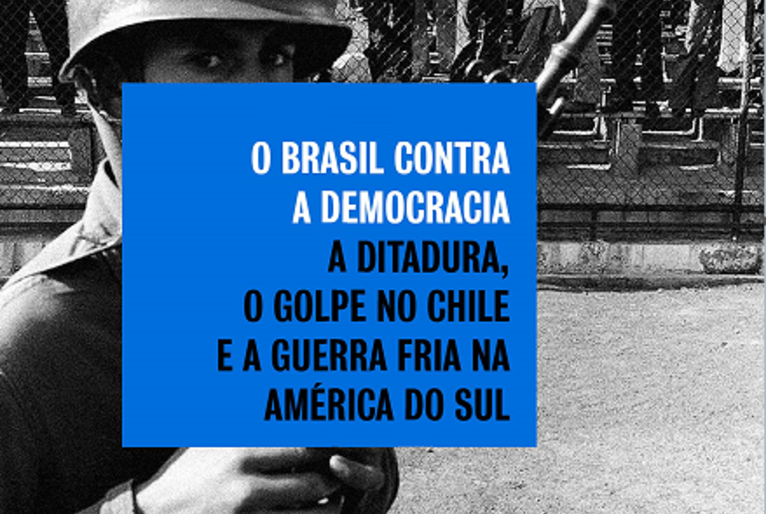No rastro do lançamento de seu novo livro, pensador francês provoca: “o neoliberalismo está no fim”. Ele prossegue: ou a esquerda tira as consequências deste fato ou, como no século passado, os fascistas o farão
OUTRAS PALAVRAS – 06/04/2022
George Eaton é editor-chefe de “New Statesman”.
Thomas Piketty não é um pensador conhecido pelo otimismo. Sua obra mais notável, O capital no século XXI (2013) alertou que o mundo estava regredindo para uma era de “capitalismo patrimonial” na qual enormes desigualdades de riqueza são mantidas através de gerações.
Mas o novo livro do economista francês, A Brief History of Equality [Uma breve história da igualdade, publicado originalmente em francês e lançado agora em inglês], adota uma perspectiva radicalmente diferente. Ele argumenta que tem havido, desde o final do século XVIII, um “movimento histórico em direção à igualdade” – e que é provável que esta tendência continue.
Será que Piketty escreveu o livro porque teme que a esquerda tenha se tornado muito negativa? “Vai além dela; acho que todos estamos obrigados a ser mais propositivos”, disse ele quando falamos por vídeo-chamada. “Se você olhar para as evidências históricas que recolhi, o que verá é que, a longo prazo, há um movimento em direção a mais igualdade política, mais igualdade social e mais igualdade econômica”.
Ele referia-se “ao fim da escravidão, à emergência do sufrágio universal masculino e ao aumento dos direitos dos trabalhadores”. O processo continuou no século XX com a descolonização, a Previdência Social, com a tributação progressiva e o sufrágio feminino, e prossegue hoje com movimentos como o #MeToo e o “Black Lives Matter”.
A intenção de Piketty não é minimizar o aumento da desigualdade de renda e riqueza que definiu a era da supremacia do mercado, muito menos sugerir que vivemos no melhor dos mundos possíveis. Ao contrário, ele quer que “façamos um balanço de todas essas melhorias para pensar nos próximos passos possíveis”.
Uma motivação secundária para o livro foi seu desejo de “escrever algo mais curto” do que suas duas obras anteriores (O capital no século XXI tem 696 páginas; sua sequência, Capital e Ideologia, tem 1150). “Havia tanta gente me dizendo: ‘Por que você não escreve algo mais curto que eu possa compartilhar com amigos e familiares?
Durante alguns anos, achei que precisava escrever uma síntese que fosse direto ao ponto principal”.
A vez anterior em que entrevistei Piketty foi no início de fevereiro de 2020, antes da pandemia de covid-19 redesenhar o mundo econômico. Será que ele acredita que a era neoliberal está definitivamente terminada? “Já estava perto do fim após a crise financeira de 2008, mas, sim, a pandemia confirmou à sua maneira que a era do neoliberalismo, que começou nos anos 80, está em grande parte terminada”.
“A grande questão”, acrescentou ele, citando Donald Trump, o Brexit e a ascensão de nacionalistas autocráticos como Vladimir Putin, Jair Bolsonaro e Narendra Modi, é “se o fim do neoliberalismo é o começo do neonacionalismo”.
Na Europa, a pandemia foi agora eclipsada pela guerra na Ucrânia, e Piketty não está impressionado com a resposta econômica do Ocidente. “Nesta fase, tudo o que reclamamos sobre sanções e oligarcas está próximo de um pensamento ilusório. Seria preciso um movimento de transparência em relação à propriedade de bens, o que não está acontecendo.
Se queremos ser sérios quanto às sanções, não são apenas algumas centenas de pessoas; há cerca de 20 mil russos que possuem mais de 10 milhões de euros e cerca de 50 mil com mais de 5 milhões de euros”.
“Construímos um sistema legal que dá enorme proteção aos indivíduos de alta riqueza, de onde quer que venham – Rússia, China ou Ocidente – e muito pouca… às pessoas normais”. Enquanto tivermos esse sistema, será muito difícil convencer a opinião russa, ou internacional, de que somos sérios quando falamos de justiça econômica e democracia”.
A guerra na Ucrânia intensificou a crise dos padrões de vida no Reino Unido e na Europa e elevou ainda mais as contas de energia em boa parte do mundo. Piketty acredita que será necessária uma intervenção dramática do Estado, do tipo da que foi vista durante a pandemia?
“É claro que se não mudarmos completamente nossa abordagem da política climática, teremos movimentos de coletes amarelos por toda parte”, advertiu ele, referindo-se aos manifestantes franceses que sacudiram a presidência de Emmanuel Macron. Ele ressalta que as emissões de carbono per capita dos 50% mais pobres do mundo estão de acordo com as metas de 2030. “O problema é que… os primeiros 1% emitem entre 70 e 75 toneladas” – trinta vezes o limite per capita para limitar o aquecimento global a 1,5°C.
Piketty nasceu em 1971 no subúrbio parisiense de Clichy, filho de pais de esquerda, que foram membros do partido trotskista Lutte Ouvrière. Seu filho, entretanto, nunca se identificou com a esquerda revolucionária. (Uma visita à União Soviética em 1991 o convenceu dos méritos de uma economia com mercado). Ao contrário, ele é um reformista radical cujas propostas políticas, tais como alíquotas de imposto sobre renda e propriedade de até 90%, e um teto de 10% para o poder de voto dos acionistas, não visam humanizar o capitalismo, mas sim forjar o que ele chama de “socialismo participativo”.
Piketty, que completou seu doutorado em redistribuição de riqueza aos 22 anos na London School of Economics, atuou em 2007 como assessor econômico da Ségolène Royal, que era a candidata presidencial francesa do Partido Socialista.
Hoje, ele atribui a reeleição antecipada de Emmanuel Macron à maneira como covid-19 “congelou a discussão política” na França e permitiu ao liberal Macron “parecer um presidente mais social”.
Em Capital e Ideologia, Piketty traçou a ascensão da “esquerda brâmane” (a elite educada/cultural, que mudou a
esquerda nas últimas décadas) e da “direita mercante” (a elite rica). O sucesso político de Macron, ele pensa, foi unir os dois grupos.
Piketty despertou a atenção política no Reino Unido pela primeira vez quando apareceu no parlamento em 2014 e se encontrou com o então líder trabalhista, Ed Miliband. Mais tarde ele se juntou ao comitê consultivo econômico de Jeremy Corbyn, em setembro de 2015, mas deixou-o junho de 2016, alegando falta de tempo e preocupações com a “fraca campanha dos trabalhistas” durante o referendo sobre a permanência na União Europeia. Qual é a sua avaliação sobre Brexit agora?
“Penso que a longo prazo será um fracasso para o Reino Unido, mas também é um fracasso para a União Europeia. Em meu país, e em muitos países europeus, as pessoas olhavam para Brexit e diziam: ‘Oh, esses estúpidos nacionalistas britânicos, não há nada que possamos fazer a respeito deles’ – um pouco como os democratas norte-americanos, para os quais não há nada que se possa fazer a respeito dos racistas brancos que votam em Trump. Mas eu acho que esta é a maneira errada de olhar para o problema.”
“A forma como organizamos as relações econômicas, a concorrência dentro da Europa e em especial a globalização, tem sido benéfica principalmente para as pessoas com o mais alto capital humano e o mais alto capital financeiro. Se não encontrarmos uma maneira de mudar isso, teremos outros Brexits em algum momento”.
Sua mensagem para o Partido Trabalhista inglês, agora dirigido por Keir Starmer, é semelhante: “Se vocês não mudarem sua plataforma econômica e social para convencer os eleitores da classe trabalhadora de que oferecem algo melhor do propõem os nacionalistas e os antiimigrantes, não vai funcionar”.
Embora Piketty tenha poucas palavras de elogio a qualquer governo, ele permanece, talvez paradoxalmente, otimista. “O neonacionalismo e o recuo identitário são sempre mais fáceis; eles proporcionam linhas de atração e estratégias de mobilização muito mais simples. Mas no final, isso não vai resolver os problemas que temos diante de nós: desigualdade, aquecimento global, migração. No final, teremos que continuar o movimento em direção à igualdade, porque é o que permitirá resolvê-los”.