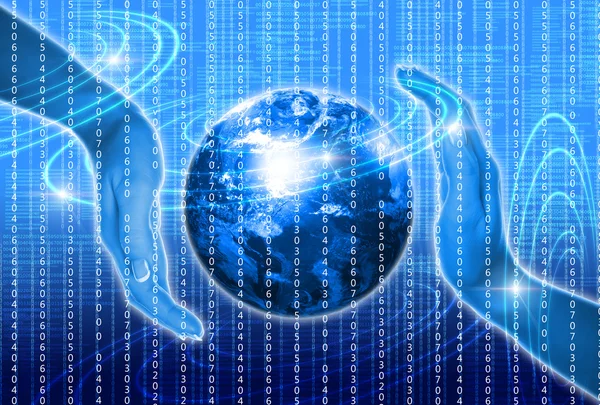Para urbanista, sujeitos periféricos podem confrontar ordem excludente da cidade, que privilegia classe média
Eduardo Sombini, Geógrafo e mestre pela Unicamp, é repórter da Ilustríssima
Folha de São Paulo, 29/01/2022
[RESUMO] Em entrevista à Folha, professora da USP argumenta que São Paulo vem sendo planejada por poucos e para poucos, o que produziu um padrão desigual de urbanização. A cidade vive um momento especial em sua história, com a coexistência de crises e a emergência política de sujeitos periféricos que podem protagonizar um novo ciclo de lutas urbano, diz.
São Paulo completou 468 anos na última terça-feira (25) atravessando a provável mais grave crise de moradia da sua história, avalia Raquel Rolnik, 65.
Ocupações nas periferias da região metropolitana e nos bairros centrais da capital se avolumam, e a população em situação de rua aumenta expressivamente, mas o agravamento das condições habitacionais dos mais pobres é só uma fração do “combo de crises” —econômica, de mobilidade urbana, de saúde pública— que a cidade enfrenta, na interpretação da urbanista.
Apesar do cenário que beira a distopia, Rolnik não se mostra desanimada. “Quem vive as crises quer morrer, mas esses momentos são oportunidades de transformação”, diz em entrevista por videochamada à Folha.
Um dos mais importantes nomes do campo progressista dos estudos urbanos no Brasil, Rolnik apoiou a candidatura de Guilherme Boulos (PSOL) na última eleição municipal em São Paulo e aposta no potencial de “sujeitos periféricos” protagonizarem um novo ciclo de lutas urbano, impulsionando agendas ambientais, antirracistas e feministas, por exemplo, e disputando os rumos de um novo modelo de política urbana.
Em “São Paulo: o Planejamento da Desigualdade” —edição atualizada do livro “São Paulo”, da antiga coleção Folha Explica, editada agora pela Fósforo—, a professora da USP revisita a história do planejamento urbano da cidade, destacando as opções políticas tomadas em momentos de crise e responsáveis pela consolidação de um padrão “classemédiocêntrico”, que resguarda os privilégios dos grupos de renda mais elevada e marginaliza a maior parte da população.
Em sua avaliação, as medidas de isolamento social adotadas durante a pandemia são uma expressão nítida desse modelo excludente, já que ficar em casa não foi uma opção para a grande maioria dos paulistanos.
“São Paulo”, da coleção Folha Explica, foi publicado em 2001. Por que atualizar e relançar o livro agora? Esse livro teve algumas edições ao longo da sua história. Na penúltima (“Territórios em Conflito – São Paulo: Espaço, História e Política”, Três Estrelas), o texto saiu com um compilado de colunas publicadas na Folha e alguns artigos acadêmicos.
Quando a Fósforo assumiu parte do catálogo da Três Estrelas, propus retomar o formato do “Folha Explica São Paulo”, aquele livrinho acessível, para quem não é especialista, e achei que era o momento de atualizar o texto —não só trazê-lo para os dias de hoje, mas fazer uma atualização um pouco mais radical de como falar da São Paulo do passado.
Decidi fazer isso pela mesma razão pela qual convidamos o Emicida para escrever o prefácio: este momento pelo qual a cidade está passando é muito especial na história, não apenas porque estamos vivendo um verdadeiro combo de crises, mas também em razão da emergência de novas vozes, que são justamente os sujeitos periféricos, conceito formulado por Tiaraju D’Andrea.
Essa narrativa sobre a cidade vem do movimento cultural das periferias, da luta antirracista, e está colocando sobre a mesa pautas que nunca tiveram muito destaque, mesmo entre os que denunciam a desigualdade.
Conto no livro a história das crises e das opções que foram tomadas naqueles momentos, com a tese de que estamos vivendo mais uma dessas. Que tal, então, começar a pensar em um outro modelo de cidade agora, apostando que, diante da crise, outro modelo de cidade é possível? Quem vive as crises quer morrer, acha que tudo está horrível —e está mesmo—, mas esses momentos são oportunidades de transformação.
No livro, a sra. indica que há uma linha de continuidade entre as várias crises do passado: a desigualdade continuou a ser planejada e a se reproduzir. O novo título do livro, aliás, faz menção a isso. Como a desigualdade vem sendo planejada em São Paulo? Falo de quando se sai da ordem escravocrata para o trabalho livre e se institui uma geografia da cidade em que, sobre as colinas, morava a classe dominante, e, nas várzeas, se instala a classe operária.
A classe operária das várzeas se instala em pensões, cortiços, casas minúsculas de alta densidade entremeadas com a paisagem das fábricas, enquanto há o paradigma dos casarões ajardinados, cujo modelo primeiro são os Campos Elíseos, depois há a migração para Higienópolis, avenida Paulista, Jardins e, em seguida, na direção da marginal Pinheiros e da zona sul.
Essa migração constitui um território burguês, que concentra renda e poder e vai incorporando outros modos de viver da classe dominante —casarões, depois edifícios e, nos anos 1990, as torres corporativas.
Há uma mudança de morfologia e, ao mesmo tempo, uma grande continuidade de um padrão segregacionista, porque o modelo periférico do território popular também se constituiu, com a autoconstrução da casa própria em loteamentos, muitas vezes irregulares e clandestinos, em periferias distantes, conectadas pelo ônibus.
O título, “Planejamento da Desigualdade”, é uma brincadeira para quem diz: “São Paulo é uma porcaria porque não tem planejamento, por isso é esse caos, é essa bagunça”. Não tem nada de caos e de bagunça. Tem planos aprovados e uma legislação urbanística, mas excludente “classemédiocêntrica”, que pensa a cidade a partir das formas de morar e de existir de um pedaço dela e simplesmente ignora o resto —e destina para o resto da cidade, que, aliás, é a maioria dela, as piores localizações.
A legislação urbanística construiu esse padrão absolutamente segregado, cujo objetivo básico é manter a concentração de oportunidades econômicas, sociais e políticas na mão de quem já tem e blindar a entrada de “newcomers”, mas, ao mesmo tempo, garantir que o mundo do trabalho vai continuar lá arrumando, cozinhando, limpando, polindo.
Como a sra. avalia a reprodução desse padrão durante a pandemia? O que aconteceu na pandemia é a expressão mais nítida desse modelo “classemédiocêntrico”, porque, diante do perigo de contágio e de morte, a política pública foi o isolamento social. “Fique em casa, vá para o home office, fique na internet fazendo tudo online e não se desloque” —ou seja, se referindo a uma realidade que deve corresponder a menos de 30% dos moradores da cidade.
Para que esses moradores pudessem ficar isolados em casa, existia um exército de gente trabalhando, levando comida, transportando. Para essas pessoas, não teve política.
A ideia do planejamento da desigualdade vem do fato de a cidade ser pensada e planejada por poucos e para poucos. O mal-estar que a maioria das pessoas da cidade tem é decorrente dessa opção.
Na pandemia, se a gente pensasse nas maiorias, nos trabalhadores de serviços essenciais que precisavam continuar se deslocando, a política deveria ser, por exemplo, tratar o transporte coletivo de uma forma totalmente diferente. No mínimo, distribuir “PFF5” para todo o mundo e, em vezes de cortar, colocar mais ônibus em circulação para ir muito menos gente dentro de cada ônibus e ter distanciamento entre as pessoas.
No começo da pandemia, houve um entusiasmo, principalmente nos setores progressistas, sobre a possibilidade de medidas redistributivas ganharem impulso. Depois de dois anos de Covid-19, porém, parece que predomina a percepção de aumento generalizado da pobreza. A São Paulo do pós-pandemia deve ser mais partida e fragmentada? O pós-pandemia está em disputa. No campo da moradia, que eu acompanho há muitos anos, acho que esta é a maior crise da história da cidade. Estou quase afirmando isso com certeza, embora a crise da moradia do final dos anos 1920 tenha sido bem difícil e acabou gerando o padrão de autoconstrução periférica, com todas as suas mazelas.
Estamos vivendo uma situação absolutamente paradoxal no campo da moradia. A renda caiu, o desemprego e a miséria aumentaram, ao mesmo tempo que a cidade está vivendo um dos maiores booms imobiliários da sua história.
Exatamente no momento em que há menos gente com capacidade de comprar um espaço, o espaço está ficando mais caro que nunca? Isso porque a dinâmica de produção e comercialização do espaço físico da cidade ficou totalmente financeirizada nas últimas décadas. Ou seja, esse crescimento imobiliário não tem nada ver com a renda da população, mas com a quantidade de capital excedente circulando no mercado financeiro que busca o tijolo, o imobiliário, como estratégia de valorização futura.
Esse capital não é só local e nacional, mas global e não tem nenhum tipo de barreira: entra, passeia pelo planeta à vontade e se instala no imobiliário com uma perspectiva de remuneração de longo prazo, porque existe uma enorme concentração de renda a nível global, como mostram os trabalhos de Thomas Piketty e Nouriel Roubini.
O imobiliário é um ativo financeiro. Por isso, estamos vivendo uma crise enorme, porque os pobres dos humanos têm que competir por uma localização com um capital financeiro gigantesco que não tem nenhum compromisso, nem territorial, nem afetivo, nem político, com a cidade.
O Emicida conta no prefácio, a partir da história pessoal dele, o que as pessoas fazem diante da crise: se viram. Tornam-se especialistas em “sevirologia”, expressão do José Soró, liderança de um movimento cultural de Perus.
Estamos vivendo um boom de novas ocupações nas extremas periferias, um boom de novas ocupações em prédios em áreas centrais e, ao mesmo tempo, um boom de pessoas na rua, com uma característica completamente diferente.
Historicamente, o morador de rua era um homem de meia-idade, com algum tipo de dependência química, problema mental etc. Imagina, a gente está vendo na rua famílias inteiras, como há muito tempo não se via.
O cenário de novas ocupações parece o dos anos 1990, o de população de rua eu nunca tinha visto algo como o de hoje. Diante disso, qual é a política habitacional que temos? Nenhuma, nem municipal, nem estadual, nem federal.
Algumas PPPs (parcerias públicas-privadas) aqui e ali. PPP não é política habitacional, é política de mercado financeiro. Ela não está voltada para atender uma demanda de quem mais necessita de moradia, mas para viabilizar um negócio com uma conta que fecha —e, para isso, tem que ter gente para pagar.
As PPPs não atendem quem está hoje na rua, indo abrir novas frentes de ocupação muito precária nas extremas periferias. É outro grupo, com renda estável e um pouco mais alta, com capacidade de pagamento. Isso é superlegal, mas olha em volta, olha quem está precisando de política pública de moradia. Usar a energia e os recursos do Estado para viabilizar moradia para quem não está na rua da amargura neste contexto é um escândalo. Um escândalo!
Vamos olhar o outro lado dessa história. Durante a pandemia, a auto-organização nos bairros populares foi muito intensa e segurou a onda de muita gente em termos de fome, de condições de morar, de redes de solidariedade. Nas favelas e nas ocupações mais estruturadas, morreu muito menos gente porque existia uma rede mínima de proteção, dentro da precariedade. Isso demonstra que é possível dar respostas por meio de uma política de mobilização completamente descentralizada.
Diria que um movimento não tão intenso, mas semelhante a esse foi a crise dos anos 1980, que gerou no começo dos anos 1990 um movimento muito interessante de renovação no campo político. Depois, isso foi totalmente fagocitado pelo sistema, mas sinto que, neste momento, a gente tem essa possibilidade de novo. Vamos ver quais vão ser os novos movimentos políticos que teremos, não só com a eleição deste ano, mas sobretudo a nível local.
Os últimos anos foram brutais para as agendas progressistas, e o campo da política urbana ficou marcado pela desconstituição. A sra. está esperançosa com a possibilidade de renovação política, mesmo com esse histórico recente? No ano passado, nós no Labcidade [Laboratório Espaço Público e Direito à Cidade da FAU-USP] tivemos uma experiência muito interessante de trabalho conjunto com três mandatas lideradas por mulheres negras, vereadoras na Câmara de São Paulo, que mostram uma mudança muito significativa.
Já vivi alguns ciclos de crise e de luta. Comecei a me envolver com política urbana nos anos 1970, então pude observar quando, pela primeira vez, operários e lideranças sindicais foram eleitos e que tipo de política pública foi sendo construída.
Agora, estamos vivendo mais um momento —no comecinho, pequenininho, não hegemônico. Vai pipocando, em vários lugares do Brasil, uma nova geração de sujeitas periféricas, mulheres, negras, trans, que estão se colocando no espaço público e trazendo novas pautas. Espero que isso cresça e vire um grande movimento de transformação.
Se a gente olhar para os ciclos de lutas urbanos, teve um muito forte nos anos 1980, que deu na Constituinte, na emenda popular da reforma urbana, nas gestões democrático-populares, nas experiências com movimentos de moradia.
Esse ciclo teve, claramente, um descenso.
Em 2005, 2006, novos movimentos começaram a surgir e, em 2013, de alguma forma eles se expressaram. Dois mil e treze foi capturado por outra narrativa, mas a narrativa do direito à cidade estava na rua e esse foi o primeiro encontro desses novos movimentos.
Eles não desapareceram e geraram uma liderança política como Guilherme Boulos, que foi para o segundo turno da eleição municipal de São Paulo contra todas as expectativas. Boulos é exatamente essa nova geração de movimentos que nasceram na era Lula e já começaram questionando as políticas desse período.
Há agendas novas: movimentos ambientalistas, feministas, antirracistas, pela mobilidade. O parque Augusta foi uma vitória de um socioambientalismo urbano autogerido.
Se eles serão capazes de conquistar uma hegemonia e produzir políticas, é cedo para dizer, mas já vivi no outro momento. Quando a gente estava em 1974, 1975, não podia imaginar que ia fazer a Constituinte em 1988. Hoje está parecendo tudo horrível e distópico, mas acho que têm mudanças importantes na cidade.
A sra. citou o parque Augusta. Existem críticas a respeito da reprodução das desigualdades por esse ativismo, ou seja, sobre os jovens de classe média das áreas centrais conseguirem se articular melhor e levar adiante suas pautas enquanto os sujeitos periféricos enfrentam muito mais dificuldades. Como enxerga essa questão? Tenho uma posição diferente. Apoiei e participei da luta do parque Augusta, assim como apoio e participo da luta do parque do Bixiga [proposto no entorno do teatro Oficina, em terrenos do Grupo Silvio Santos]. Acho que tem algumas simplificações na conversa.
A primeira grande simplificação: São Paulo não pode ser entendida por meio do binômio centro/periferia, que não corresponde à territorialidade política da cidade. Esse binômio esconde o território popular que existe no centro.
Aliás, esconder o território popular do centro é ótimo para uma frente de expansão imobiliária que quer eliminá-lo.
O centro é um dos territórios negros e populares de São Paulo, e existe uma luta histórica pela permanência em bairros como Bixiga, Sé, República, Glicério.
Então, é preciso visibilizar e proteger o território popular do centro, porque a política atual é de eliminação —por exemplo, o que está se fazendo na chamada cracolândia é solução final, eliminação física de todos os imóveis e das pessoas.
Dizer que pobre está na periferia e que branco rico está no centro simplifica a história e não permite revelar que esses espaços centrais também são objeto de conflito. Não preciso dizer nada, só convido as pessoas a ir ao parque Augusta passear. Você não encontra só branco de classe média, mas uma mistura social. É um espaço muito apropriado pelas pessoas e muito popular.
Dito isso, você tem razão, no sentido de que a classe média tem uma capacidade de vocalização na política muito maior. Esta é a história da cidade: a história da classe média fazendo política urbana para si mesma.
RAQUEL ROLNIK, 65
Arquiteta e urbanista, doutora pela Universidade de Nova York e professora titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, onde coordena o Labcidade (Laboratório Espaço Público e Direito à Cidade). Foi diretora de Planejamento da Prefeitura de São Paulo (1989-1992, gestão Luiza Erundina, PT), secretária nacional de Programas Urbanos do Ministério das Cidades (2003-2007, governo Luiz Inácio Lula da Silva, PT) e relatora especial da ONU para o direito à moradia adequada (2008-2014). Autora, entre outros livros, de “Guerra dos Lugares: a Colonização da Terra e da Moradia na Era das Finanças” e “A Cidade e a Lei: Legislação, Politica Urbana e Territórios na Cidade de São Paulo”.
SÃO PAULO: O PLANEJAMENTO DA DESIGUALDADE; Preço R$ 59,90 (120 págs.); R$ 44,90 (ebook); Autor Raquel Rolnik; Editora Fósforo