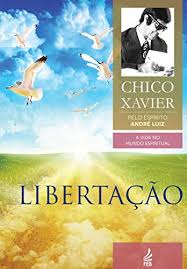João Vitor Santos – Edição 525 – Instituto Humanitas Unisinos IHU – 30 de julho de 2018
Luiz Gonzaga Belluzzo considera que o filósofo e economista desvelou a dinâmica do capital, que possibilidade ainda hoje usar suas reflexões para compreender os cenários mundial e local
Há quem defenda que o pensamento de Karl Marx se dá por superado por estar inscrito no século XIX. Assim, observando apenas os movimentos do capitalismo nesse tempo, suas ideias seriam incapazes de dar conta de outro capitalismo, completamente atravessado pela tecnologia e pela velocidade tão características do século XXI. Para o economista Luiz Gonzaga Belluzzo, é um grande equívoco adotar essa concepção reducionista. Segundo ele, Marx não descobriu como o capitalismo movia os sentidos numa sociedade industrial ainda em desenvolvimento na Inglaterra. “Marx desvendou com grande precisão a dinâmica do regime do capital. Não se trata de uma antecipação, mas da compreensão das ‘leis de movimento’ desse modo de produção”, analisa. Ou seja, apresentando como esse capital funciona, ele também concebe possibilidades de análises para possíveis transformações que ainda estão por vir.
Na entrevista a seguir, concedida por e-mail à IHU On-Line, Belluzzo ainda detalha que “o movimento de reconstituição teórica de Marx parte da circulação simples de mercadorias como a dimensão mais abstrata do regime do capital investido em todas as suas formas, já ‘dotado’ do capital a juros e das ‘normas’ da concorrência generalizada, ademais de amparado nas forças produtivas da grande indústria que abriga em suas entranhas o progresso técnico ‘autonomizado’”. Assim, reitera a ideia de que Marx pensa em possibilidades metodológicas muito mais do que em descrição e observação de realidades. “Vou simplificar: O Capital é um exercício da dialética materialista, de passagem do abstrato ao concreto”, acrescenta.
Luiz Gonzaga Belluzzo é graduado em Direito pela Universidade de São Paulo – USP, mestre em Economia Industrial pelo Instituto Latino-Americano de Planificação-Cepal e doutor em Economia pela Universidade de Campinas – Unicamp. Foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda e, atualmente, é professor titular do Instituto de Economia da Unicamp. É um dos fundadores da Faculdades de Campinas – Facamp, onde é professor. Entre suas obras publicadas, destacamos Manda quem pode, obedece quem tem prejuízo (São Paulo: Facamp/Editora Contracorrente, 2017), Capital e suas metamorfoses (São Paulo: Unesp, 2013), Os antecedentes da tormenta: origens da crise global (Campinas: Facamp, 2009) e Temporalidade da Riqueza – Teoria da Dinâmica e Financeirização do Capitalismo (Campinas: Oficinas Gráficas da Unicamp, 2000).
Confira a entrevista.
IHU On-Line – Como Karl Marx pode contribuir para compreendermos a realidade brasileira de hoje e conceber saídas para impasses?
Luiz Gonzaga Belluzzo – Marx afirmou que em todas as etapas de expansão do capitalismo o jogo do mercado global envolve transformações financeiras, tecnológicas, patrimoniais e espaciais. A globalização financeira e produtiva da segunda metade do século XX descortinou uma nova fase, marcada por desencontros nas relações entre o modo de funcionamento dos mercados, movidos pelas estratégias da grande empresa transnacional e os espaços jurídico-políticos nacionais, espaços “desintegrados” pela aceleração do tempo de produção e da circulação do capital. Nesse movimento, o Brasil perdeu espaço e continua perdendo.
O processo de concorrência movido pela grande empresa se dá sob a tutela das instituições nucleares de “governança” do sistema, que são a finança e o Estado hegemônico, pelos quais passam as estratégias nacionais de “inserção” das regiões periféricas. As transformações que hoje observamos são impulsionadas pelo jogo estratégico entre o “polo dominante” – no caso a economia americana, sua capacidade tecnológica, a liquidez e profundidade de seu mercado financeiro, o poder de seignorage de sua moeda – e a capacidade de “resposta” dos países em desenvolvimento às alterações no ambiente internacional.
É desnecessário dizer que as economias periféricas dispõem de estruturas e trajetórias sociais, econômicas e políticas muito dessemelhantes, o que dificulta para umas e facilita para outras a chamada “integração competitiva” nas diversas etapas de evolução do capitalismo. O sucesso do Brasil, até o início dos anos 1980, desencadeou a crise da dívida externa que iria provocar o seu reiterado “fracasso” na tentativa de se ajustar às novas condições internacionais. No polo oposto, o fracasso chinês até os anos 1980 propiciou condições iniciais mais favoráveis para o sucesso das reformas empreendidas a partir de então.
A “globalização do século XXI”, ao operar nas órbitas financeira, patrimonial e produtiva, engendrou dois tipos de regiões: aquelas cuja inserção internacional se faz pela atração do investimento direto destinado aos setores produtivos afetados pelo comércio internacional; e aquelas, como Brasil e Argentina, que buscaram sua integração mediante a abertura comercial passiva e a flexibilização da conta de capitais.
IHU On-Line – Como podemos compreender o caso da China, que cresce tentando manter um socialismo que não rompe com a ordem capitalista mundial?
Luiz Gonzaga Belluzzo – É impossível resistir à constatação de que a China enfrenta os desafios da globalização com concepções e objetivos que desmentem a propalada perda de importância das políticas nacionais e intencionais de industrialização e desenvolvimento. Em discurso de abertura do 19º Congresso do Partido Comunista da China , o presidente Xi Jinping discorreu a respeito do socialismo com características chinesas. Fosse possível pinçar a visão “econômica” da sesquipedal arenga, eu arriscaria a pele apontando a conexão Partido-Estado-Mercado.
A formulação estratégica é do Partido Comunista da China povoado de 80 milhões de membros. O sistema de consultas da base para a cúpula e vice-versa é inçado de instâncias, marchas e contramarchas. Tomada a decisão, as burocracias de Estado, os gestores das empresas estatais, os governos provinciais, o People’s Bank of China cuidam de implementar as diretrizes. Obedecem às máximas de Deng Xiao Ping : “não importa a cor do gato, se o bicho caça ratos” ou “atravessar o rio das reformas saltando as pedras”. Devagar e sempre é o lema do socialismo à moda chinesa.
O presidente Xi Jinping anunciou as políticas de “ampliação do papel do mercado” e de reforço às empresas estatais. O propósito é alentar o empreendedorismo e a inovação.
IHU On-Line – Ainda sobre a China, que socialismo emerge dessa sua experiência econômica? E o que difere de outras experiências como a da ex-União Soviética?
Luiz Gonzaga Belluzzo – A experiência chinesa combina o máximo de competição – a utilização do mercado como instrumento de desenvolvimento – e o máximo de controle. Entenderam perfeitamente que as políticas liberais recomendadas pelo Consenso de Washington não deveriam ser “copiadas” pelos países emergentes. Também compreenderam que a “proposta” americana para a economia global incluía oportunidades para o seu projeto nacional de desenvolvimento. Assim controlaram as instituições centrais da economia moderna: o sistema de crédito e a política de comércio exterior, aí incluída a administração da taxa de câmbio. Os bancos públicos foram utilizados para dirigir e facilitar o investimento produtivo e em infraestrutura.
O que realmente importa para o desenvolvimento chinês é a capacidade de adaptação do sistema às novas condições impostas pelas transformações da economia global, sem destruir o que foi herdado do passado. Não interessa se o sistema é “melhor” no sentido de atender a configurações abstratas, frequentemente irrealistas e, portanto, perigosas. Nesta perspectiva, é vital assegurar que o sistema econômico tenha sempre canais abertos para reformas institucionais.
O professor Yao Yang da Universidade de Pequim atribui a flexibilidade institucional à capacidade do governo de promover as políticas corretas sem atender aos grupos de interesses (dentro e fora do Estado, é bom lembrar) que buscam influenciar as decisões. Essa neutralidade, diz ele, explica o sucesso da transição econômica da China de uma economia de comando para uma economia “mista” em que o mercado tem papel importante, mas não tem influência na formulação das estratégias de longo prazo.
Na Rússia de Gorbachev , as oligarquias particularistas (cientistas acadêmicos, dirigentes industriais e cúpulas militares) que proliferaram à sombra da oligarquia partidária não tiveram maiores dificuldades em manter e ampliar os privilégios na democracia de Yeltsin . Os novos ricos da Rússia contemporânea não desembarcaram de uma nave espacial enviada à Terra diretamente do Planeta Marte, mas foram criados nas entranhas do regime soviético.
IHU On-Line – Que relações podemos estabelecer entre Marx e Keynes ? Em que medida esse segundo abre outras perspectivas de leitura do marxismo?
Luiz Gonzaga Belluzzo – Marx e Keynes compreenderam que a característica central do capitalismo não é a produção de mercadorias por meio de mercadorias, nem vai ser encontrada na coordenação, efetuada através dos mercados competitivos, dos planos dos indivíduos racionais, na busca da maximização da utilidade. Admiradores da sua enorme capacidade de produção de mercadorias e de seu formidável potencial de satisfação de necessidades, para eles o capitalismo é um regime de acumulação de riqueza abstrata, monetária.
Se, por um lado, é admirável o seu potencial de criação de riqueza material, de progresso tecnológico e de bem-estar das nações, de outra parte é assustador o seu inerente desprezo pelas condições particulares da existência dos povos e pelos conteúdos da vida. Assim, o capitalismo é o regime de produção em que a riqueza acumulada sob a forma monetária está sempre disposta a dobrar-se sobre si mesma, na busca da autorreprodução. D-D’, e não D-M-D’, é o processo em estado puro, adequado a seu conceito, livre dos incômodos e empecilhos de suas formas materiais particulares.
Não se trata de uma deformação, mas do aperfeiçoamento de sua substância, na medida em que o dinheiro é o suposto e o resultado do processo de acumulação de riqueza no capitalismo. É este processo fantasmagórico de autorreprodução que o capital está realizando sob os nossos olhos nos mercados financeiros contemporâneos.
O capital a juros e a circulação financeira
Marx trata no volume III do circuito próprio do loanable capital – o capital a juros – que mais tarde Keynes chamaria de “circulação financeira” em contraposição à “circulação industrial”. No capítulo 30, Marx estabelece as relações entre capital-mercadoria, capital produtivo e capital monetário: “Em nossa análise da forma peculiar da acumulação do capital monetário e da riqueza monetária em geral, vimos que ela se reduziu à acumulação de títulos de propriedade sobre o trabalho. A acumulação de capital da dívida pública revelou-se como sendo apenas um aumento na classe de credores do Estado, que detêm o privilégio de retirar antecipadamente para si certas somas sobre a massa de impostos públicos. […] Esses títulos de dívida que são emitidos sobre o capital originalmente emprestado e gasto há muito tempo, essas duplicatas de um capital já consumido, servem para seus possuidores como capital na medida em que são mercadorias que podem ser vendidas e, com isso, reconvertidas em capital. […] ganhar ou perder em virtude de preços desses títulos de propriedade e de sua centralização nas mãos dos reis das ferrovias etc. converte-se cada vez mais em obra do acaso, que agora toma lugar do trabalho como modo original de aquisição da propriedade do capital, e também o lugar da violência direta. Esse tipo de riqueza monetária imaginária constitui uma parte considerável não só da riqueza monetária dos particulares, mas também, como já dissemos, do capital dos banqueiros.”
Keynes tinha familiaridade com os mercados financeiros. Escreveu na Teoria Geral : “Este é o resultado inevitável dos mercados financeiros organizados em torno da chamada ‘liquidez’. Entre as máximas da finança ortodoxa, seguramente nenhuma é mais antissocial que o fetiche da liquidez, a doutrina que diz ser uma das virtudes positivas das instituições investidoras concentra seus recursos na posse de valores ‘líquidos’. Ela ignora que não existe algo como a liquidez do investimento para a comunidade como um todo. A finalidade social do investimento bem orientado deveria ser o domínio das forças obscuras do tempo e da ignorância que rodeiam o nosso futuro. O objetivo real e secreto dos investimentos mais habilmente efetuados em nossos dias é ‘sair disparado na frente’ como se diz coloquialmente, estimular a multidão e transferir adiante a moeda falsa ou em depreciação.”
Prossegue: “Esta luta de esperteza para prever com alguns meses de antecedência as bases de avaliação convencional, muito mais do que a renda provável de um investimento durante anos, nem sequer exige que haja idiotas no público para encher a pança dos profissionais: a partida pode ser jogada entre estes mesmos. Também não é necessário que alguns continuem acreditando, ingenuamente, que a base convencional de avaliação tenha qualquer validez real a longo prazo. Trata-se, por assim dizer, de brincadeiras como o jogo do anel, a cabra-cega, as cadeiras musicais. É preciso passar o anel ao vizinho antes do jogo acabar, agarrar o outro para ser por este substituído, encontrar uma cadeira antes que a música pare. Estes passatempos podem constituir agradáveis distrações e despertar muito entusiasmo, embora todos os participantes saibam que é a cabra-cega que está dando voltas a esmo ou que, quando a música para, alguém ficará sem assento.”
IHU On-Line – Como a crítica que Polanyi faz à razão moderna pode ser cotejada com a crítica ao capitalismo de Marx?
Luiz Gonzaga Belluzzo – Em A Grande Transformação , Karl Polanyi chamou de moinho satânico as engrenagens do mercado autorregulado. O católico Polanyi procura mostrar em seu livro que a transformação da terra, da mão de obra e do dinheiro em mercadorias significa subordinar a própria substância da sociedade às intempéries da economia “desencastrada” das demais instâncias da vida social.
A terra (recursos naturais), a mão de obra (capacidade de trabalho) e o dinheiro (poder de compra) não podem estar sujeitos aos processos imprevisíveis e frequentemente catastróficos do mercado porque são, antes de mais nada, condições de sobrevivência humana, meios que permitem o acesso aos bens da vida. Condicionar o acesso a esses meios de vida a decisões que não têm outra finalidade senão a maníaca acumulação de riqueza abstrata, monetária, significa lançar os indivíduos na insegurança permanente. Atingidos pelo desemprego, pela falência ou pela desvalorização de sua riqueza, os indivíduos são afastados dos meios que permitem a sua sobrevivência. O colapso do mercado autorregulado e de sua utopia moral desencadeou reações de autoproteção da sociedade contra o desemprego, o desamparo, a falência, a bancarrota, enfim, contra a exclusão dos circuitos mercantis, o que significa, na prática, a impossibilidade de acesso aos meios necessários à sobrevivência humana.
Nos anos de 1930, Polanyi observa um momento da história do século XX em que a revolta contra o “moinho satânico” revelou-se, na maioria dos países europeus, tão brutal quanto os males que a economia destravada impôs à sociedade. O avanço do coletivismo, diz ele, não foi fruto de uma patologia ou de uma conspiração irracional de classes ou grupos, mas sim de forças gestadas nas entranhas da sociedade “dos indivíduos racionais”.
Com o colapso dos nexos mercantis, a superpolitização das relações sociais tornou-se inevitável. O despotismo social-darwinista da mão invisível é substituído pela tirania visível do chefe. O político se transfigura na polícia, no policiamento da vida social, como se fossem suspeitas quaisquer formas de espontaneidade.
IHU On-Line – Ainda é possível, à luz do marxismo, compreender as transformações do capitalismo de nosso tempo?
Luiz Gonzaga Belluzzo – Marx desvendou com grande precisão a dinâmica do regime do capital. Não se trata de uma antecipação, mas da compreensão das “leis de movimento” desse modo de produção. Muitos cometem o equívoco de afirmar que Marx analisou o capitalismo inglês do século XIX.
Não é trivial enfrentar o percurso conceitual de Marx em seu empenho para investigar os desdobramentos da forma valor. O movimento de reconstituição teórica de Marx parte da circulação simples de mercadorias como a dimensão mais abstrata do regime do capital investido em todas as suas formas, já “dotado” do capital a juros e das “normas” da concorrência generalizada, ademais de amparado nas forças produtivas da grande indústria que abriga em suas entranhas o progresso técnico “autonomizado”. Vou simplificar: O Capital é um exercício da dialética materialista, de passagem do abstrato ao concreto.
Vamos conversar sobre um tema atual: o progresso técnico no regime do capital. Nos Grundrisse , Marx vislumbrou o momento em que o avanço dos métodos capitalistas de produção tornaria o tempo de trabalho uma “base miserável” para a valorização da imensa massa de valor que deverá funcionar como capital. “Quando o processo de trabalho em sua totalidade não está mais submetido à habilidade do trabalhador, mas à aplicação tecnológica da ciência, então a tendência do capital é dar à produção um caráter científico. […] o desenvolvimento do capital fixo indica o grau em que o conhecimento social tornou-se uma força direta de produção e em que medida, portanto, o processo da vida social foi colocado sob o controle do General Intellect e passou a ser transformado de acordo com ele.”
Em seu desenvolvimento, a Indústria 4.0 exprime o avanço do capital fixo. São fábricas inteligentes com máquinas conectadas em rede e a sistemas que podem visualizar toda cadeia produtiva, podendo tomar decisões por si só. A nova fase da digitalização da manufatura é conduzida pelo aumento do volume de dados, ampliação do poder computacional e conectividade, a emergência de capacidades analíticas aplicada aos negócios, novas formas de interação entre homem e máquina, e melhorias na transferência de instruções digitais para o mundo físico, como a robótica avançada e impressoras 3-D.
Nos Grundrisse e em O Capital, Marx investiga, como já foi dito, a “natureza” do regime do capital como modalidade histórica cujo propósito é a acumulação de riqueza monetária, abstrata; assim abre espaço para a compreensão da predominância do capital a juros e do capital fictício, como formas de riqueza e de enriquecimento derivadas da propriedade do capital e não da atividade inovadora e fáustica do empreendedor capitalista. No capitalismo carregado de todas as suas determinações, riqueza agregada compreende não só o estoque de ativos físicos, reprodutivos, mas também aparece sob a forma “duplicada” de direitos de propriedade sobre as empresas (ações), títulos de dívida gerados ao longo de vários ciclos de crédito e de criação de valor. Esses ativos financeiros – ações e títulos de dívida – são avaliados diariamente em mercados especializados.
No Livro III de O Capital, Marx estabelece a conexão entre a expansão do crédito e a valorização dos ativos financeiros: “Ao desenvolver-se o capital-dinheiro disponível também se desenvolve a massa de valores rentáveis, títulos do Estado, ações, etc. Mas aumenta ao mesmo tempo a demanda de capital-dinheiro disponível posto que os que especulam com títulos e valores desempenham um papel fundamental no mercado de dinheiro. […] Se todas as compras e vendas desses títulos não fossem mais do que a expressão dos investimentos reais de capital, seria acertado dizer que não influem na demanda de capital de empréstimo.”
IHU On-line – Que respostas a economia política marxista é capaz de dar a crises, como as geradas pelo capital fictício, o sistema de crédito?
Luiz Gonzaga Belluzzo – No dia 11 de julho de 1856, o “New York Tribune” publicou o terceiro artigo de Marx sobre o Crédit Mobilier. Sob os auspícios de Napoleão III , o banco de investimento empreendido pelos irmãos Pereire , Emile e Isaac, tinha o propósito de “concentrar grandes somas de capital de empréstimo para investimento em empresas industriais”. Depois de ironias e sarcasmos lançados sobre o “socialismo imperial” de Luís Napoleão e das habituais estocadas nas concepções reformistas de Saint-Simon e discípulos, Marx reconhece que as transformações da finança capitalista e o surgimento da sociedade por ações, sobretudo da sociedade anônima, “marcam uma nova época na vida econômica das nações modernas”.
Os bancos comerciais, diz ele, “fluidificam temporariamente o capital fixo”, enquanto os bancos de investimento cuidam de “fixar o capital líquido” em estruturas empresariais cada vez maiores e de administração mais complexa. Marx conclui: “Quase todas as crises comerciais dos tempos modernos estão relacionadas com o desarranjo nas proporções entre o capital fixo e o “floating capital” (os títulos de dívida e de propriedade negociados diariamente nas Bolsas de Valores e nos demais mercados secundários).
A série de artigos sobre o Crédit Mobilier foi estampada nas páginas do “New York Tribune” no período em que Marx trabalhava nos Grundrisse e dez anos antes da publicação do primeiro volume de O Capital. Quatro décadas iriam transcorrer entre as primeiras e pontuais investigações de Marx sobre as peripécias do capital financeiro e o esforço de Engels para completar os alfarrábios do terceiro volume, publicado em 1894.
Formas concretas que brotam do capital
Marx adverte, na abertura do Livro III de O Capital, que até então, nos Livros I e II, o processo capitalista de produção foi considerado em seu conjunto, representando a unidade do processo de produção e de circulação. “Aqui no livro III, não se trata de formular reflexões gerais sobre essa unidade, senão, ao contrário, de descobrir e expor as formas concretas que brotam do movimento do capital considerado como um todo. Em seu movimento real, os capitais se enfrentam sob essas formas concretas […] As manifestações do capital se aproximam, pois, gradualmente da forma sob a qual se apresentam na superfície da sociedade, mediante a ação recíproca dos diversos capitais que se enfrentam na concorrência e tal como (essas manifestações) se refletem na consciência habitual dos agentes de produção.” Marx procura articular teoricamente essas formas de modo a demonstrar como o capital, no exercício de sua natureza expansionista, rompe continuamente as limitações do seu processo mais geral e “elementar” de circulação e reprodução. O capital precisa existir permanentemente de forma “livre” e líquida e, ao mesmo tempo, crescentemente centralizada, para revolucionar periodicamente a base técnica, submeter massas crescentes de força de trabalho a seu domínio e criar novos mercados. Apenas dessa maneira pode fluir para colher novas oportunidades de lucro e, concomitantemente, reforçar o poder do capital industrial e mercantil imobilizado nos circuitos prévios de acumulação. Daí as análises da concorrência, do crédito e, portanto, do processo de concentração e centralização do capital se constituírem na parte mais rica e substantiva da investigação marxista sobre a dinâmica do sistema capitalista e suas metamorfoses.
Uma leitura cuidadosa dos Grundrisse e dos três volumes de O Capital permite compreender que o dinheiro transformado em capital – origem e finalidade da circulação e da produção capitalistas (Dinheiro-Mercadoria-Dinheiro) – não só exige a submissão real da força de trabalho ao domínio das forças produtivas como também impõe aos trabalhadores (e aos proprietários do valor-capital) os ditames da acumulação de riqueza abstrata. A acumulação de mais dinheiro mediante o uso do dinheiro para capturar mais valor sob a forma monetária suscita a transfiguração das formas de expansão do valor, isto é, impõe o predomínio das formas “desenvolvidas”: o capital a juros, o dinheiro de crédito e o capital fictício. Nessas formas, o dinheiro-capital realiza o seu conceito de valor que se valoriza e tenta continuamente romper os seus próprios limites ao buscar o acrescentamento do valor sem a mediação da mercadoria força de trabalho. “D-M-D” se converte em “D-D”.
Na (re)constituição teórica do modo capitalista de produção, o dinheiro, enquanto substantivação do valor e objetivo do processo de valorização, assume a forma de dinheiro de crédito. As determinações mercantis e capitalistas do modo de produção não são distorcidas, mas, ao contrário, alcançam o ápice de seu desenvolvimento quando são introduzidos o capital a juros e o dinheiro bancário. O sistema de crédito é a forma mais adequada para cumprir as determinações do dinheiro: ele “aperfeiçoa” a execução das funções monetárias no capitalismo e constitui uma esfera de “valorização” em que o capital monetário ensaia estabelecer uma relação consigo mesmo, “D-D”. Aqui, o dinheiro realiza o seu conceito de substantivação do valor e de forma universal da riqueza. O movimento de abstração real e o fetichismo chegam ao estágio supremo. “O crédito, que também é uma forma social da riqueza, substitui o dinheiro (metálico) e usurpa o lugar que lhe correspondia. A confiança no caráter social da produção faz a forma dinheiro dos produtos algo destinado a desaparecer. […] Ao se desenvolver o sistema de crédito, a produção capitalista tende a suprimir continuamente o limite metálico-material e fantástico da riqueza e de seu movimento – mas quebrando seguidamente sua cabeça contra ele.”
Ao concentrar capital monetário, os bancos ganharam a prerrogativa de emitir notas que abastecem a circulação monetária. Com a evolução do sistema de crédito, os passivos bancários mudam de forma: a emissão de notas é substituída por depósitos à vista que podem ser mobilizados por seus titulares como meios de pagamento. “Se B deposita no banco o dinheiro recebido de A e o banqueiro entrega esse dinheiro a C como desconto de uma letra, C faz uma compra a D e este deposita no banco, que por sua vez empresta a E, que compra de F, teremos que o ritmo (da criação monetária) como meio de circulação se opera mediante várias operações de crédito.” (O Capital, vol. III, p. 489).
O “salto” no potencial de acumulação promovido pelas formas financeiras engendra a criação de modalidades de negócios e de enriquecimento que pretendem se tornar independentes das leis da produção de mais-valia e das normas de reprodução e acumulação do capital produtivo. A concentração da riqueza líquida nos bancos e demais instituições financeiras enseja o adiantamento de recursos livres e líquidos para sancionar a aposta do capitalista em funções que resolveu colocar o seu estoque de capital em operação, contratando trabalhadores e adquirindo meios de produção. Concomitantemente, o movimento de expansão do valor, ao ampliar as relações de débito e crédito, “cria” o circuito de negociação de valores – títulos de dívida e direitos de propriedade. A avaliação e negociação dos direitos de propriedade e de dívidas abre espaço para episódios especulativos.
Valorização fictícia
O capital a juros patrocina a valorização “fictícia” da riqueza, o que acentua e acelera as tendências da economia capitalista para deflagrar crises de superacumulação e de crédito, provocando com violência a continuidade do processo de “expropriação dos expropriadores” e de destruição de valor na esfera produtiva e financeira. A “reunião do que não deveria estar separado” impõe o “retorno” aos fundamentos, o que se efetua mediante a desvalorização dos títulos que representam direitos à apropriação da renda futura e do patrimônio: títulos de dívida e de propriedade, mercadorias não vendidas e sem valor, capacidade produtiva excedente. Nas crises, fica demonstrado que não é possível preservar o capital em funções [capital produtivo] das escaladas de valorização da riqueza capitalista na esfera financeira.
As relações entre a “economia real” e a economia monetário-financeira não são de exterioridade, mas nascem das formas necessárias assumidas pelo capital em seu movimento de expansão e transformação permanentes. Aí estão inscritas a concentração e centralização do controle do capital líquido em instituições de grande porte e cada vez mais interdependentes. O circuito “D-D” nasce das tendências centrais do regime do capital: um processo necessário e inexorável, porque a acumulação capitalista é acumulação de riqueza abstrata e, ao mesmo tempo, um movimento de abstração real que transfigura o dinheiro, a encarnação substantivada do valor e da riqueza, nas formas “desenvolvidas” do dinheiro de crédito, do capital a juros e do capital fictício.
Do capital produtivo ao financeiro, um desenvolvimento contraditório
Não há oposição entre as formas – capital produtivo versus capital financeiro – mas um desenvolvimento contraditório. Por isso, o capital financeiro, em seu movimento de valorização, tende a arrastar o capital em funções para o frenesi especulativo, a criação contábil de capital fictício. A chamada desregulamentação financeira mostrou de forma cabal como a “natureza” intrinsecamente especulativa do capital fictício se apoderou da gestão empresarial, impondo práticas destinadas a aumentar a participação dos ativos financeiros na composição do patrimônio, inflar o valor desses ativos e conferir maior poder aos acionistas. Particularmente significativas são as implicações da “nova finança” sobre a governança corporativa. A dominância da “criação de valor” na esfera financeira expressa o poder do acionista, agora reforçado pela nova modalidade de remuneração dos administradores, efetivada mediante o exercício de opções de compra das ações da empresa.
A “geração de valor” para os acionistas acirra a concorrência entre as empresas na busca de ganhos especulativos de curto prazo, enquanto a liquidez dos mercados permite a constante reestruturação das carteiras pelos administradores dos fundos financeiros “coletivizados”. No sistema de crédito, os prestamistas finais disponibilizam – através dos bancos comerciais e demais intermediários financeiros – recursos destinados ao conjunto da classe capitalista, para um empreendimento que eles não sabem qual é. Entregam aos especialistas das finanças a administração de suas “poupanças” e dependem de seus critérios para a obtenção de rendimentos.
Exuberância financeira e crise
No último ciclo de exuberância financeira, que culminou na crise de 2008, foi ampla e irrestrita a utilização das técnicas de alavancagem com o propósito de elevar os rendimentos das carteiras em um ambiente de taxas de juros reduzidas. Isso favoreceu a concentração da massa de ativos mobiliários em um número reduzido de instituições financeiras grandes demais para falir. Os administradores dessas instituições ganharam poder na definição de estratégias de utilização das “poupanças” das famílias e dos lucros acumulados pelas empresas, assim como no direcionamento do crédito. Na esfera internacional, a abertura das contas de capital suscitou a disseminação dos regimes de taxas de câmbio flutuantes, que ampliaram o papel de “ativos financeiros” das moedas nacionais, não raro em detrimento de sua dimensão de preço relativo entre importações e exportações.
Na esteira da liberalização das contas de capital e da desregulamentação, as grandes instituições construíram uma teia de relações “internacionalizadas” de débito-crédito entre bancos de depósito, bancos de investimento e investidores institucionais. O avanço dessas inter-relações foi respaldado pela expansão do mercado interbancário global e pelo aperfeiçoamento dos sistemas de pagamentos. Os bancos de investimento e os demais bancos “sombra” aproximaram-se das funções monetárias dos bancos comerciais, abastecendo seus passivos nos “mercados atacadistas de dinheiro” (“wholesale money markets”), amparados nas aplicações de curto prazo de empresas e famílias. Não por acaso, nos anos 2000 a dívida intrafinanceira como proporção do PIB americano cresceu mais rapidamente do que o endividamento das famílias e das empresas. A “endogeinização” da criação monetária mediante a expansão do crédito chegou à perfeição em suas relações com o crescimento do estoque de quase-moedas abrigado nos “money markets funds”. Esses fenômenos correspondem ao que Marx designou “controle privado da riqueza social”, fenômeno que se realiza no movimento de expansão do sistema capitalista.
Essa socialização da riqueza significa não apenas que o crédito permite o aumento das escalas produtivas, da massa de trabalhadores reunidos sob o comando de um só capitalista. Significa mais que isso: os capitais individuais passam a ser mais interdependentes e “solidários” no sistema de crédito e, portanto, mais sujeitos a episódio de crise sistêmica. A “separação” entre o capital em funções e o capital a juros (capital-propriedade) promove a subordinação “solidária” do capital produtivo à sua forma mais “desencarnada”.
Juros e dividendos
A remuneração do capital em geral “aparece” sob a forma de juros e dividendos. Formas ‘aparenciais’ são, ao mesmo tempo, formas ilusórias, no sentido de que ocultam as conexões fundamentais desse modo de produção, mas também são formas necessárias, expressões das relações de produção “transformadas” pelo processo de abstração real. Os juros aparecem como forma de remuneração do capital “sans phrase” e sua formação nos mercados de riqueza mobiliária depende da demanda e oferta de capital-dinheiro transfigurado na forma de capital a juros, capital-propriedade. Essa é a forma mais abstrata de existência do capital, a sua forma “verdadeira”, no sentido de que é a mais desenvolvida. “É evidente que no capital a juros, o capital se completa como fonte misteriosa e autocriativa de seu próprio acrescentamento […] é o capital par excellence.”
IHU On-Line – Durante muito tempo, falou-se da incompatibilidade entre o marxismo e o cristianismo. Mas o senhor é um marxista cristão, correto? Que chaves de leitura essas duas perspectivas são capazes de oferecer para se compreender o mundo?
Luiz Gonzaga Belluzzo – As afinidades entre marxismo e cristianismo são muito mais profundas do que admitem as visões estreitas do materialismo vulgar e do fanatismo religioso. Há tempos, escrevi que, em 2013, o papa Francisco ofereceu aos católicos e cristãos a Primeira Exortação Apostólica Evangelii Gaudium . Assim como as encíclicas Rerum Novarum de Leão XIII , Mater et Magistra e Pacem in Terris de João XXIII , a exortação apostólica de Francisco abordava as vicissitudes e alegrias da vida cristã no mundo contemporâneo.
Os olhares do nosso tempo perderam de vista a ideia de comunidade cristã, expressão tantas vezes repetida no texto do Papa e incrustrada nas origens do cristianismo. Jacques Le Goff diz com razão que no cristianismo primitivo e no judaísmo a eternidade não irrompia no tempo (abstrato) para “vencê-lo”. A eternidade não é a “ausência do tempo”, mas a dilatação do tempo ao infinito. Depois da encarnação, o tempo adquire uma dimensão histórica. Cristo trouxe a certeza da eventualidade da salvação, mas cabe à história coletiva e individual realizar essa possibilidade oferecida aos homens pelo sacrifício da cruz e pela ressurreição. “Não nos é pedido que sejamos imaculados, mas que não cessamos de melhorar, vivamos o desejo profundo de progredir no caminho do Evangelho, e não deixemos cair os braços”.
O cristianismo – o mistério libertador da Encarnação – foi um divisor de águas na história da humanidade, um movimento revolucionário, nascido das crueldades e das sabedorias do mundo greco-romano. Em uma entrevista sobre seu filme Satyricon , Fellini desvelou a alma que se escondia no rosto de seus personagens no crepúsculo do império romano. As máscaras se debatiam entre o tédio das concupiscências e as angústias da desesperança. Para o grande Federico, o filme escancarava “a nostalgia do Cristo que ainda não havia chegado”.