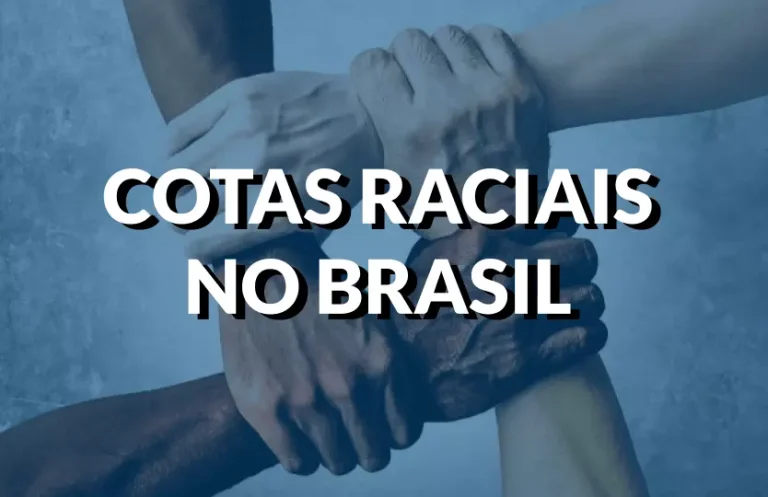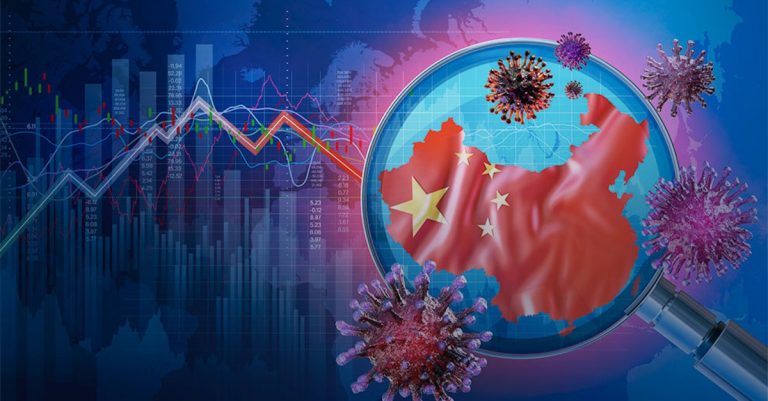Pensador norte-americano estará no Brasil para apresentação no Fronteiras do Pensamento
DANIELA ARCANJO, FOLHA DE SÃO PAULO, 04/09/2022
SÃO PAULO
Conversar com o pensador norte-americano Steven Johnson é poder falar sobre quase qualquer assunto —de epidemia de cólera no século 19 a bitcoin, passando por tentativas de contato extraterrestre.
Para ele, quem quiser saber para onde o futuro caminha, deve olhar com o que as pessoas estão se divertindo.
“Uma das coisas que faz algo ser divertido e prazeroso é a novidade”, afirma. “Não tem nenhum propósito, mas é interessante. E para continuar surpreendendo as pessoas você tem que continuar desenvolvendo coisas novas, desafiar expectativas. E isso leva a outras ideias que são mais sérias, úteis ou práticas.”
Na sua última publicação, o escritor resolveu fazer uma incursão nos avanços científicos que permitiram elevar a expectativa de vida das pessoas. “Longevidade”, lançado no Brasil pela editora Zahar em 2021, foi motivado pela pandemia e pelos ataques à ciência durante a crise sanitária.
“Qualquer criança em idade escolar nos Estados Unidos pelo menos ouviu falar sobre o pouso na Lua em 1969. Mas quantos deles sabem sobre a erradicação da varíola, que estava acontecendo na mesma época?”, questiona Johnson.
O pesquisador é um dos convidados deste ano do ciclo de palestras Fronteiras do Pensamento. Além de uma palestra online no dia 23 de setembro, ele se apresentará presencialmente em São Paulo no dia 12 de setembro e em Porto Alegre, em 14 de setembro.
Você fundou uma das primeiras revistas online, a Feed Magazine, em 1995. A internet era melhor naquela época? Não, não era. Em 1995 realmente não era porque, em primeiro lugar, poucas pessoas estavam online. Ainda tinha muito o que fazer para simplesmente explicar o que era a web. E as ferramentas eram muito limitadas. Era muito baseado em texto, nós praticamente só tínhamos o hipertexto. Queríamos fazer comunidades, interagir com os leitores, e era muito difícil fazer isso naquela época. Eu diria que a era de ouro foi um pouco mais tarde. Nos primórdios dos blogs, no final dos anos 1990, início dos anos 2000. O período pós bolha da internet foi muito produtivo, muitas ideias novas surgiram.
E agora, o que acha da internet? É um mix de coisas. Eu continuo sendo um grande fã do Twitter, por exemplo. Eu sigo músicos, arquitetos, escritores, políticos, tecnólogos e vejo todos os dias o que eles estão pensando, compartilhando e comentando. É uma fonte incrível de inspiração e surpresa. Eu simplesmente não percebo muitas dessas questões problemáticas com as redes sociais —que são legítimas. Da maneira que eu uso, não me afeta. Então eu ainda vejo o lado positivo disso tudo.
O grande problema é que, no começo, a internet não tinha um padrão aberto para registrar identidade e relacionamentos. A web foi projetada para registrar formalmente as relações entre documentos, por meio de hiperlinks, e isso foi incrivelmente poderoso. Mas não havia uma maneira de criar identidade. Como esse recurso não se construiu em padrões abertos, foi definido por empresas privadas, como Facebook, LinkedIn e Twitter. A definição de todos esses relacionamentos estava subitamente nas mãos de uma empresa, sendo conduzida por um modelo de publicidade e por investidores. Foi aí que nos metemos em alguns problemas.
Você escreveu um artigo em 2018 sobre a bolha do bitcoin. Na época, a moeda estava em torno de US$ 12 mil. O preço já quintuplicou desde então, e agora vemos um novo colapso. O que isso diz sobre criptomoedas? Acho que quase todo mundo já desistiu da ideia de que essas coisas vão funcionar como moedas. Estamos enlouquecendo aqui nos Estados Unidos com uma inflação de 8%. É muito difícil fazer isso funcionar. Além disso, os custos de transação são enormes. Quando o bitcoin surgiu estavam todos falando: “nós precisamos de uma nova moeda descentralizada”. Agora dizem que não é para isso que serve. Acho um pouco suspeito.
Sua gama de interesses vai da epidemia de cólera na Inglaterra do século 19 até tentativas de contato extraterrestre. O que liga todos esses assuntos? Sim, a variedade de coisas sobre as quais escrevi é realmente grande. Essa é uma das coisas que eu amo, mergulhar nesses campos malucos, conversar com especialistas, aprender e ler. Eu sou muito interessado em novas ideias, em como elas vêm ao mundo. Quais tecnologias e avanços científicos permitiram essa ideia transformadora de que a cólera se transmite pela água e não pelo ar, que Jon Snow teve em 1854? Por que em Londres e não na Índia, em 1800, ou em Nova York, em 1870? A mesma coisa com o bitcoin. Sempre que eu vejo surgir uma nova maneira de pensar, começo a prestar atenção.
Já podemos dizer que a pandemia deixou um legado tecnológico? Acho que há dois bastante significativos a longo prazo. Um deles é a vacina. Os cientistas as desenvolveram em um prazo curto, o mapeamento foi incrivelmente rápido. Foi um marco na história da medicina e da ciência. Falaremos sobre isso daqui a cem anos como um avanço fundamental.
A outra questão está no nosso estilo de vida. Sempre disseram que a internet ia permitir que a gente vivesse em qualquer lugar, sem precisar se aglomerar em uma cidade como Nova York ou São Paulo, e isso nunca aconteceu. Então a pandemia nos obrigou a ficar em casa e a tecnologia finalmente avançou ao ponto de uma reunião por Zoom ser muito boa. Acho que todos nós aprendemos que não precisamos viajar 45 minutos todos os dias para o escritório. E isso terá um impacto duradouro.
Na pandemia também vimos líderes negando a crise sanitária e sociedades profundamente divididas. Esse foi um dos motivos pelos quais eu escrevi “Longevidade”. Acho que uma das razões pelas quais temos esse tipo de elemento anticiência em nossa sociedade é porque não celebramos as conquistas da saúde pública e da medicina.
Temos um milhão de memoriais para heróis militares. Qualquer criança em idade escolar nos Estados Unidos pelo menos ouviu falar sobre o pouso na Lua em 1969. Mas quantos deles sabem sobre a erradicação da varíola, que estava acontecendo na mesma época? Foi um exemplo incrível de colaboração internacional e tem um impacto muito maior em nossas vidas.
As pessoas morriam de varíola o tempo todo, é provavelmente o maior assassino da nossa história. E estamos muito mais focados nos astronautas na Lua. Se seus heróis são astronautas e não médicos e autoridades de saúde pública, você não está pré-condicionado a apreciar essas figuras e instituições quando vem uma pandemia.
Para onde temos que olhar para ver o futuro? Eu escrevi há alguns anos o livro “O poder inovador da diversão: como o prazer e o entretenimento mudaram o mundo” [Editora Zahar]. Ele é só sobre brincadeiras e coisas que as pessoas fazem por diversão. Nossos ancestrais, por exemplo, criando instrumentos musicais primitivos antes de inventar a escrita. Ou a relação entre inteligência artificial e jogos, por exemplo. Muito da inteligência artificial surgiu do treinamento de um algoritmo para jogar um game.
Uma das coisas que faz algo ser divertido e prazeroso é a novidade. Você fica surpreso, como se estivesse vendo uma boneca mecânica pela primeira vez. Não tem nenhum propósito, mas é interessante. E para continuar surpreendendo as pessoas você tem que continuar desenvolvendo coisas novas, desafiar expectativas. E isso leva a outras ideias que são mais sérias, úteis ou práticas. Você encontrará o futuro onde quer que as pessoas mais estejam se divertindo.
Onde as pessoas mais estão se divertindo hoje? Provavelmente o melhor exemplo atual são as ferramentas de imagem que estão saindo da inteligência artificial. As pessoas estão simplesmente criando essas fotos malucas com software, e ninguém está usando oficialmente ainda. Só a energia que está sendo gasta para explorar essas ferramentas já é um sinal de que esse será um espaço muito interessante no futuro.
STEVEN JOHNSON, 54
Autor de 13 livros sobre ciência e inovação, Johnson é apresentador da séria Extra Life, da rede de televisão PBS, e do podcast American Innovations. O escritor tem pós-graduação em literatura inglesa pela Universidade Columbia e é professor da Universidade de Nova York