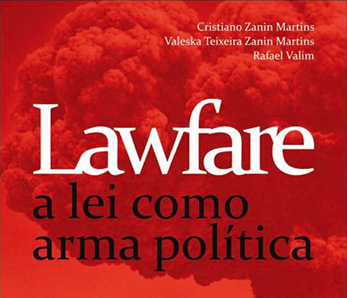Superar a nossa estagnação requer aceitar os fracassos
Marcos Lisboa, Presidente do Insper, ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda (2003-2005) e doutor em economia.
Folha de São Paulo, 13/02/2022
Nos últimos 30 anos, as pesquisas sobre os determinantes do crescimento econômico tiveram avanços importantes, beneficiadas pelo acesso a grandes bases de microdados. Esses resultados ajudam a entender algumas das razões da longa estagnação do Brasil.
Parte importante do aumento de produtividade nos países ricos decorre da concorrência entre empresas que resultam em inovações, empreendedores experimentando novos negócios e a falência de empresas ineficientes.
Nos Estados Unidos, que têm historicamente uma baixa taxa de desemprego em comparação com os demais países, há um fluxo relevante de destruição e criação de empresas e de empregos anualmente, com elevada mobilidade dos ativos produtivos, capital e trabalho, que são transferidos de firmas ineficientes para as suas concorrentes, mais produtivas.
Alguns estudos na década de 2000 identificaram que, em países ricos, entre 5% e 10% das empresas nasciam ou fechavam suas portas por ano, e esse processo contribuiu significativamente para o aumento da produtividade e da renda dos trabalhadores. O livro “Producer Dynamics”, organizado por Timothy Dunne, J. Bradford Jensen e Mark J. Roberts, sumariza esses, e muitos outros, resultados.
Essa agenda de pesquisa ganhou impulso com os trabalhos de Cheng-Tai Hseih e Peter Klenow. Eles observaram que havia bem mais desigualdade na produtividade das empresas nos países emergentes do que em países ricos. Políticas públicas que protegem firmas ineficientes parece ser parte do problema.
Hseih e Klenow estimaram que se capital e trabalho fluíssem de empresas ineficientes para as demais, como ocorre nos Estados Unidos, a produtividade da manufatura na China aumentaria entre 30% e 50%, e na Índia, entre 40% e 60%.
Diego Restuccia e Richard Rogerson sumarizaram os principais resultados, controvérsias e desafios dessa agenda de pesquisa no artigo “The Causes and Costs of Misallocation”, publicado no Journal of Economic Perspectives em 2017.
Crescimento econômico, aumentar a renda média de um país ao longo de muitos anos, requer ganhos de produtividade, conseguir produzir mais com os recursos disponíveis. Esse processo nada tem de trivial.
Ele requer melhoras contínuas no processo produtivo, nas técnicas de gestão ou na escolha das atividades a serem realizadas.
Karl Marx percebeu a relevância da concorrência em uma economia de mercado para esse processo. (Marx pode ter errado em muitos argumentos lógicos, mas era um notável observador da economia).
Empresas disputam mercados, e quem consegue produzir com melhor tecnologia, eficiência na gestão ou desenho de produtos tem vantagem sobre as demais. Avanço contínuo, seguidas inovações bem-sucedidas, é o nome do jogo, mas é um jogo tumultuado.
Empreendedores tentam construir soluções novas para fazer frente às firmas estabelecidas. A maioria fracassa. Empresas antigas tentam antecipar as novidades para não serem soterradas por elas. Nem sempre conseguem.
A IBM era um exemplo de modernidade nos anos 1970, mas tomou decisões que se revelaram equivocadas, como apostar nos grandes computadores e delegar a uma empresa novata a responsabilidade pelo sistema operacional dos seus microcomputadores. A novata tornou-se a Microsoft.
Josepeh Schumpeter, que havia lido Marx, cunhou o termo “destruição criativa” para esse processo descentralizado de busca por melhora contínua, que promete o lucro extraordinário em caso de sucesso, e a obsolescência em caso de fracasso.
Philippe Aghion e seus coautores sistematizam a evidência da pesquisa sobre esse tema em seu livro recente, “The Power of Creative Destruction”.
Nos EUA, a IBM encolheu frente à Microsoft. No Brasil, na mesma época, a lei de informática protegeu empresas que produziam computadores obsoletos.
O restante da economia foi condenado a utilizar tecnologias defasadas em razão de uma política pública que prometia o desenvolvimento. Ela, contudo, apenas preservou o atraso.
A agenda do nosso Legislativo revela o quanto ainda insistimos em conceder benefícios fiscais e proteger empresas pouco eficientes.
Um exemplo recente foi a prorrogação do Padis, com a lei 14.302 de 7/1/2022, que garante incentivos “à fabricação de componentes ou dispositivos eletrônicos semicondutores”, beneficiando uma quantidade impressionante de produtos, como cimento de resina; silicone, na forma elastômero —encapsulante; chapas, folhas, tiras, autoadesivas de plástico, mesmo em rolos, à base de polímeros; chapas e tiras de cobre de determinado tamanho; condutores elétricos para certa tensão; e muito, muito mais.
Líderes do Legislativo defenderam a medida em razão da “perda de competitividade” nos últimos anos das empresas que fabricam esses produtos, como sintetizado em nota do Senado Federal.
O Judiciário, na mesma toada, continua a postergar falências por meio de longos processos, usualmente beneficiando os acionistas de empresas encalacradas.
O nosso capitalismo de Estado defende subsídios para o investimento privado e a preservação do patrimônio de empresários que fracassaram. Isso ocorreu no governo autoritário do general Geisel, e na gestão Dilma que se dizia de esquerda. O oportunismo se ajusta à ideologia.
Associações empresariais, financiadas com recursos extraídos dos trabalhadores por meio de tributos, como o Sistema S, se insurgem contra as propostas de abertura ao comércio exterior em bens de capital ou de informática que são adotadas em muitos países desenvolvidos ou emergentes.
Optamos por coibir a chegada de novas tecnologias vindas do exterior enquanto continuamos a preservar o patrimonialismo que se remunera graças aos favores oficiais. O que teria sido do combate à pandemia se tivéssemos tentado desenvolver uma vacina inteiramente nacional?