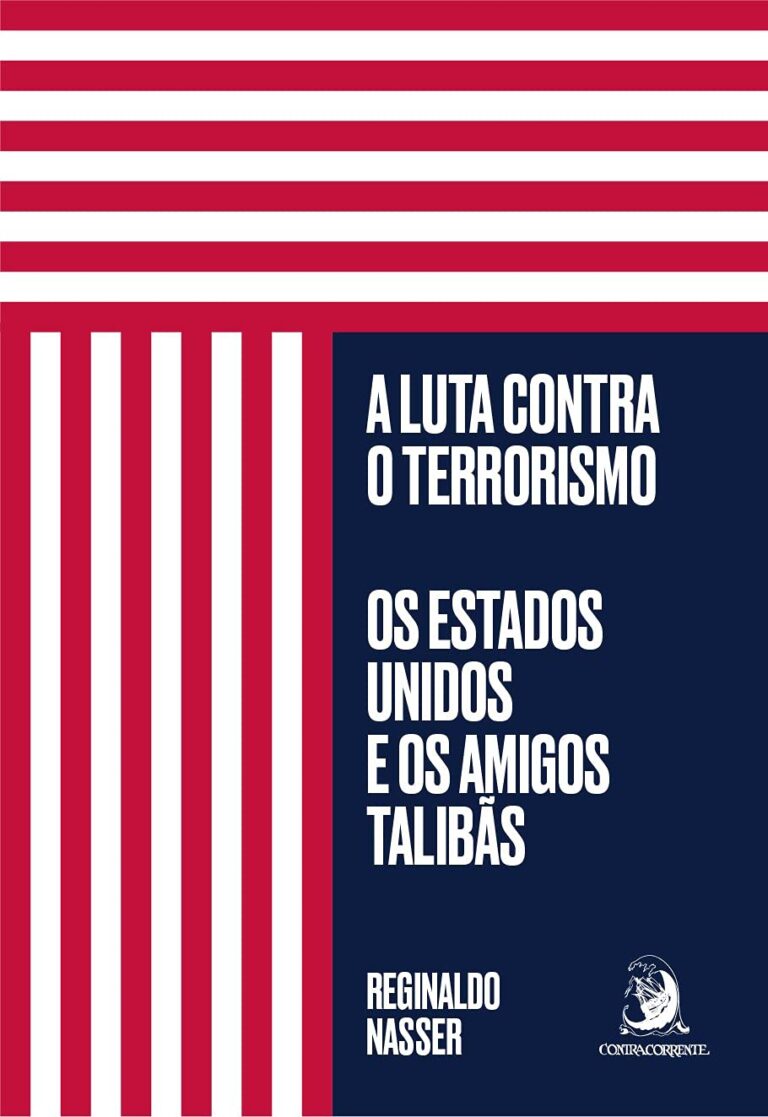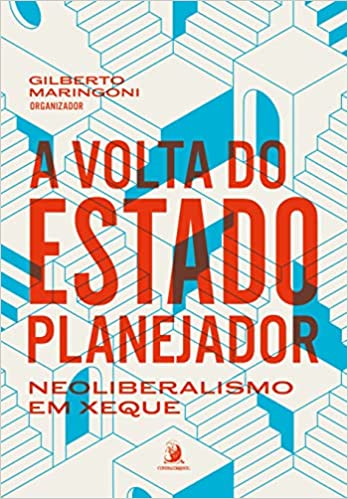Denunciando ‘hegemonia esquerdista’, escritor abriu espaço para conservadores e apostou em revolução cultural de Bolsonaro
Camila Rocha, Doutora em ciência política pela USP, é autora de “Menos Marx, Mais Mises: o Liberalismo e a Nova Direita no Brasil” e coautora de “The Bolsonaro Paradox: the Public Sphere and Right Wing Counterpublicity in Contemporary Brazil”
Folha de São Paulo, 05/02/2022
[RESUMO] Nome de inegável importância no debate público brasileiro recente, Olavo de Carvalho fez uso de uma estratégia retórica de choque nas redes sociais, com argumentação sem fundamento e palavrões, para atrair segmentos da direita órfãos de líderes no país, forjando uma militância que ganhou expressão com a vitória de Bolsonaro.
A importância de Olavo de Carvalho como intelectual público na história brasileira recente é inegável. Sua morte rapidamente desencadeou a produção de uma grande quantidade de colunas e artigos dedicados a remontar sua trajetória e discutir seu legado político na imprensa nacional e internacional —além, claro, de uma torrente de manifestações nas redes sociais de luto e admiração, por um lado, e celebração irônica, por outro.
A maior parte do que foi escrito nos meios tradicionais se concentrou em enfatizar o caráter folclórico do personagem, ressaltando sua defesa de teorias conspiratórias e afirmações esdrúxulas. Carvalho inspirou até mesmo a criação de um museu virtual que organiza por categoria suas intervenções, ricamente ilustradas com postagens em redes sociais e vídeos de sua autoria.
Uma delas, em que diz que a Pepsi usa células de embriões humanos em suas bebidas, chegou a ser alvo de verificação da Agência Lupa.
Isso prova que sua estratégia retórica para atrair a atenção da mídia mainstream e divulgar as causas que defendia continua rendendo frutos mesmo após sua morte. O caso da Pepsi é exemplar nesse sentido. Afinal, após o choque inicial, descobriu-se que a PepsiCo tinha um convênio com uma empresa de biotecnologia que havia sido alvo de questionamento de militantes antiaborto por, supostamente, utilizar culturas de células de fetos abortados. Ponto para os conservadores.
O uso dessa estratégia estava intimamente conectado com o principal objetivo de Olavo de Carvalho no debate público: combater uma “hegemonia cultural esquerdista” que teria passado a vigorar no país desde a redemocratização. Em outras palavras, combater o pacto democrático de 1988.
Esse pacto remete a um arranjo político inédito forjado após a promulgação da nova Constituição. Sustentado ao mesmo tempo pela Constituição de 1988 e pelo presidencialismo de coalizão —modelo de governo composto por grandes coalizões parlamentares—, o arranjo se baseia no entendimento implícito de que a implementação dos direitos sociais anunciados na Carta deveria ocorrer de forma lenta, gradual e segura.
Foi assim que, a despeito da morosidade do Estado em incorporar as demandas democráticas da sociedade, o debate público no Brasil, ainda que continuasse a ser dominado por elites, passou a conviver com a participação de grupos historicamente oprimidos.
Apesar de contarem com poucos recursos de ordem material e organizacional em comparação com as elites, esses grupos conseguiram incidir na criação de uma nova institucionalidade. Isso ocorreu tanto durante a Constituinte quanto posteriormente, por meio de um processo de institucionalização no âmbito da própria sociedade civil e no Estado com a criação de políticas públicas específicas e novos órgãos sob os governos eleitos democraticamente que se sucederam até o impeachment de Dilma Rousseff.
Contudo, apesar dos avanços inegáveis produzidos pela maior porosidade do Estado —e da própria sociedade civil—, o processo de incorporação de novas vozes e avanços sociais foi acidentado e permeado por ambiguidades, contradições e recuos.
Durante o auge do lulismo, vozes críticas ao governo se tornaram escassas no debate público. À esquerda, vários movimentos sociais pareciam ter se institucionalizado e se esvaziado. À direita, havia um sentimento de orfandade de determinados segmentos, tendo em vista a atuação da oposição ao governo —e Olavo logo se tornou seu principal porta-voz.
Ainda na metade da década de 1990, muito antes da chegada do PT ao poder, ele defendia a necessidade de combater a “hegemonia cultural esquerdista”. Afinal, segundo seu entendimento, a esquerda já dominava jornais, revistas, ONGs, editoras de livros e cursos de ciências humanas nas principais universidades brasileiras, notadamente na USP.
Essa ideia aparecia de diversas formas em alguns de seus livros publicados por editoras de menor expressão, como “A Nova Era e a Revolução Cultural: Fritjof Capra e Antonio Gramsci” (1994), “O Jardim das Aflições” (1995) e dois volumes do livro “O Imbecil Coletivo” (1996 e 1998, respectivamente).
De acordo o próprio autor, a publicação dessas obras —em especial de “O Imbecil Coletivo”, em que tecia críticas contundentes aos intelectuais e acadêmicos de esquerda brasileiros— abriu um espaço para liberais e conservadores que havia sido negado desde os anos 1980.
Sua intenção, na época, era se lançar crítico cultural. Seus livros, no entanto, ainda circulavam em meios restritos.
Em razão disso, buscou apoio junto a pessoas que frequentavam os circuitos formados por organizações que atuavam em defesa do livre mercado —ele alegou, inclusive, que foi apresentado à obra do economista Ludwig von Mises por Donald Stewart Jr., empresário fundador do Instituto Liberal do Rio de Janeiro.
Porém, após ter frequentado um primeiro curso sobre pensamento social e político que fora organizado pelo instituto para o público geral, Carvalho não causou boa impressão devido à agressividade que dispensava aos seus oponentes ideológicos e não conseguiu o patrocínio desejado.
Tentou ainda obter financiamento junto à fabricante de cigarros Souza Cruz, à organização católica tradicionalista Opus Dei e à articuladora norte-americana Atlas Network, no que tampouco obteve sucesso. Resolveu, então, se autopromover.
Para tanto, passou a contar inicialmente com recursos próprios, obtidos por meio da venda de livros, de seu trabalho na imprensa e da oferta de cursos privados de filosofia.
Foi assim que Olavo de Carvalho —que, em 1998, se declarou a favor do livre mercado na economia, tradicionalista e conservador no que tange à defesa da religião, anarquista em relação à moral e à educação, nacionalista e contra o “governo mundial” no que diz respeito à política internacional e realista no campo da filosofia— passou a concentrar esforços em divulgar suas ideias na internet e, progressivamente, deixou de lado a ideia de se firmar como crítico cultural no circuito mainstream.
Questões políticas conjunturais e discussões de ordem moral e filosófica assumiram o primeiro plano em suas intervenções, ventiladas por meio de um blog próprio, criado em 1998, e de um site coletivo fundado em 2002, em que eram veiculados textos de vários autores e autoras sobre política, economia e filosofia.
Ao mesmo tempo que Carvalho se tornava mais conhecido entre os frequentadores dos fóruns digitais da época, também influenciou decisivamente a tradução e a circulação de autores pouco conhecidos no Brasil. A editora É Realizações publicou vários livros de autores que Carvalho utilizava como referência em suas obras, como Roger Scruton, Eric Voegelin, Theodore Dalrymple e Christopher Dawson, que hoje figuram em sua lista de mais vendidos.
Já a Vide Editorial, além de publicar obras de Scruton e Voegelin, também começou a lançar títulos relacionados mais explicitamente à crítica do marxismo e do comunismo, como “A Mente Esquerdista – as Causas Psicológicas da Loucura Política”, “O Verdadeiro Che Guevara”, “O Livro Negro do Comunismo” e “Marxismo Desmascarado”, bem como promover livros de autores nacionais pouco conhecidos na época, fomentando, assim, um pequeno circuito editorial alternativo.
Em meio ao auge de popularidade do governo Lula, os espaços criticados por Olavo por sua falta de pluralidade ideológica se ampliaram, passando a abranger o Estado e até a Rede Globo.
Com o tempo, independentemente da qualidade e do rigor de sua prática filosófica, alvo de críticas contundentes mesmo à direita do espectro político, sua audiência também se ampliou. Psicanalistas, médicos, empresários, jornalistas, professores universitários, alunos de graduação e de pós-graduação de universidades públicas e privadas formavam parte significativa de seus alunos, leitores e ouvintes.
Sem dúvida, essas pessoas não padeciam de escassa formação acadêmica e recursos financeiros restritos. Em grande medida, se sentiam pouco representadas ou mesmo desprezadas na esfera pública tradicional e viam em Olavo alguém que dava vazão a seus anseios. Na visão de um de seus alunos, Olavo incentivou as pessoas a serem mais intelectualizadas, e, ao mesmo tempo, a zombar de um verniz de intelectualidade que existe no Brasil.
Contudo, se o “esquerdismo” atribuído às produções da maior emissora de televisão do país é algo passível de questionamento, havia uma arena que, sem sombra de dúvida, era hegemonizada pela esquerda à época: o movimento estudantil.
Na metade dos anos 2000, parte significativa dos frequentadores dos fóruns digitais da nova direita emergente, sobretudo no finado Orkut, era composta de estudantes universitários que não se identificavam com a esquerda. Em vista de suas experiências universitárias, que, na visão deles, eram permeadas por exclusão e silenciamento, passaram a compartilhar as ideias divulgadas por Carvalho.
Como bem lembrou Natália Leon Nunes, estudante de filosofia da USP à época, um grupo de alunos recém-ingressos se dirigiu ao centro acadêmico em 2006 para propor um debate entre Olavo de Carvalho e Marilena Chauí. O evento não ocorreu, porque, segundo ela, “nós da filosofia tratávamos com ironia e desprezo o doido ressentido com a USP que falava um monte de besteira”.
Com o tempo, a ideia de que existia uma “hegemonia esquerdista” ganhou cada vez mais adeptos, sobretudo entre universitários, e a própria forma de combatê-la, a política do choque, passou a se consolidar entre a nova direita emergente.
Isso se traduzia em promover reações de choque intencionalmente para chamar a atenção para pautas e demandas pouco ou nada tematizadas na esfera pública tradicional. Nesse sentido, o uso abundante de palavrões e xingamentos por Olavo era consciente.
Para além de chamar a atenção para temas ligados a discursos conservadores, a política do choque também ajudava a unificar vozes descontentes e forjar um novo espírito militante. Assim, muito antes de podcasts e lives se popularizarem, suas ideias passaram a atingir um espectro muito mais amplo de pessoas por meio de transmissões que realizava no Blog Talk Radio e no YouTube.
A despeito da crescente popularidade de Olavo de Carvalho nesses espaços e nos meios digitais, seus alunos não tiveram sucesso em se organizar formalmente, e a divulgação de suas ideias era intermitente.
Em 2008, foi anunciada na comunidade Olavo de Carvalho, no Orkut, a proposta de elaborar um fórum conservador digital e, em 2010, um Instituto Olavo de Carvalho chegou a ser criado. Durou pouco, contudo, e teve suas atividades encerradas dois anos e sete meses depois. No mesmo ano, a transmissão do podcast de Olavo no site Blog
Talk Radio também chegou ao fim.
Percebendo uma demanda reprimida por livros de direita, Carlos Andreazza, então editor da Record, resolveu lançar em 2013 “Esquerda Caviar: A Hipocrisia dos Artistas e Intelectuais Progressistas no Brasil e no Mundo”, de Rodrigo Constantino, e “O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota”, de Olavo de Carvalho, que logo entraram para a lista dos mais vendidos daquele ano.
Em 2015, em meio ao auge de mobilização popular durante as manifestações pelo impeachment de Dilma Rousseff, o livro de Olavo se tornou um best-seller com mais de 120 mil cópias vendidas.
Desde então, Olavo intensificou as conversas que já vinha mantendo com a família Bolsonaro e, ao sinalizar apoio à candidatura do capitão reformado à Presidência, logo se tornou um de seus principais conselheiros.
Sua intenção era que, uma vez no governo, Bolsonaro apoiasse uma revolução cultural —um novo pacto social e político que suplantasse o de 1988 e endireitasse a nação, na direção de um destino cristão-ocidental próprio. Isso alçou Olavo ao posto de pai espiritual dos direitistas brasileiros, como mostra o fato de os próprios integrantes do infame gabinete do ódio, assim como tantos outros jovens, terem se convertido ao catolicismo por sua influência.
Ao final, Olavo não só foi capaz de chamar a atenção que queria como, finalmente, conseguiu participar de debates que antes lhe eram vetados. Em abril de 2017, o escritor foi convidado a participar, ao lado do vereador petista Eduardo Suplicy, da Brazil Conference, evento organizado pela Universidade Harvard e pelo MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts).
Depois de elogiar a iniciativa das universidades em unir polos que nem sempre dialogam no país, ele disse: “A ideia é muito boa. É necessário, urgente. É apenas uma vergonha para o Brasil que tenha sido o MIT que propôs isso e não uma universidade brasileira. Isso mesmo é um sintoma do estado de coisas”.
Olavo de Carvalho afirmou ainda que aprovava a ideia de renda básica universal, proposta por Suplicy: “Claro, todo o mundo quando nasce tem que ter alguma coisa. Tem que ter, pelo menos, alguém para segurar você, para você não cair no balde. Se você não tiver nem isso, está ferrado”. Nisso, Olavo tinha razão.