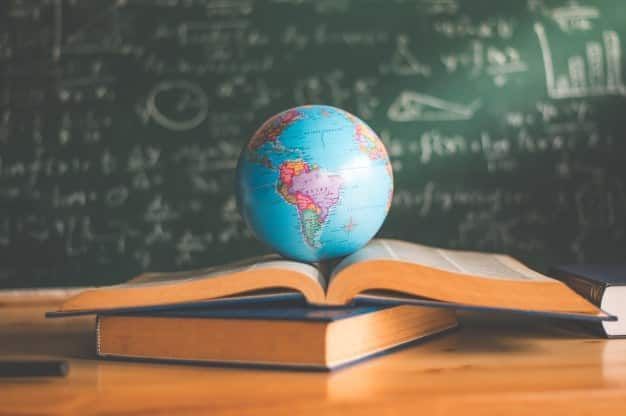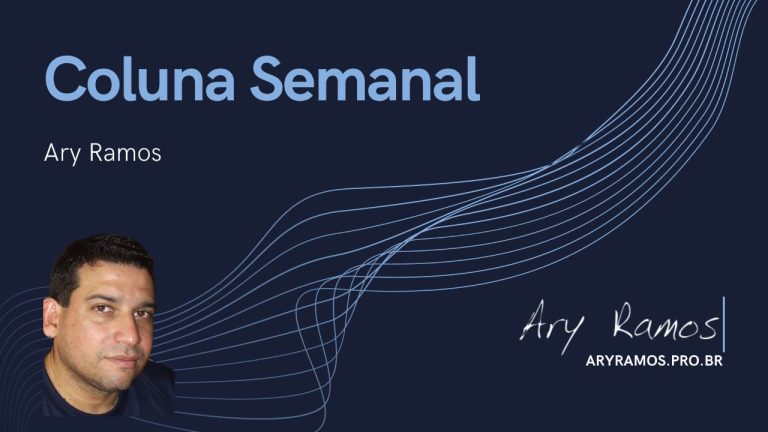Suspenso temporariamente pelo governo Lula, ele reduz disciplinas essenciais à formação, sob a ilusão de ampliar carga horária. Ao invés de forjar seres neoliberais, saída pode estar no ensino técnico integrado à rede de Institutos Federais
Elenira Vilela e Daniel Cara,
OUTRAS PALAVRAS – 04/04/2023
O tema mais importante da educação brasileira nesse início de Governo Lula-Alckmin é o Novo Ensino Médio (NEM). Chegou a ser tema de entrevista do Presidente à PósTV 247, com ele afirmando o compromisso do seu governo em que estudantes e profissionais da educação sejam ouvidos de verdade na reformulação das diretrizes. E na segunda-feira, 3 de abril surgiu a notícia de que a implementação ficará suspensa pelos próximos 90 dias, inclusive no que atinge as alterações do ENEM 2024, vitória de estudantes, pesquisadores e trabalhadoras da educação mobilizadas.
O NEM, também conhecido como Reforma do Ensino Médio, foi aprovado e implantado por Medida Provisória, no contexto do processo de golpe liderado por Michel Temer e, portanto, sem um amplo debate educacional. Diante desse fato e das graves consequências dessa política, desde a transição governamental, é esperado que o Governo Lula-Alckmin abra um amplo debate considerando duas possibilidades: primeiro, a revogação da Reforma do Ensino Médio (apoiada pela esmagadora maioria da comunidade educacional) e, segundo, a revisão do Novo Ensino Médio – perspectiva defendida pelos formuladores da Reforma que são próximos do ministro Camilo Santana e de sua secretária-executiva, Izolda Cela.
Em 2023, após um ano de implementação do Novo Ensino Médio, essa Reforma imposta de cima para baixo, desestruturou a etapa terminativa da Educação Básica, esvaziando o aprendizado dos estudantes e precarizando o trabalho dos professores.
Contudo, diante das críticas, há um esforço dos defensores (e formuladores) da Reforma em defender o indefensável, destacando supostos elementos positivos no NEM. Por exemplo, não há uma única educadora (ou educador) no Brasil que seja contrário a aumentar a jornada escolar. É fato, nosso país é um dos maiores países do mundo, mas tem uma das menores jornadas escolares. No entanto, o Novo Ensino Médio na verdade reduz a jornada, porque estabelece um máximo de 1800 horas para a educação geral, representando uma redução de 25% da carga horária das ciências e conhecimentos escolares dos currículos internacionalmente e tradicionais no Brasil. Além disso, temos como fundamental o questionamento sobre que trabalho é desenvolvido nesse tempo a mais e com que objetivos, quem executa e quem lucra com isso.
A aprovação e implantação do Novo Ensino Médio (NEM) foi um processo que atropelou totalmente um longo debate que estava acontecendo e era coordenado pelo Ministério da Educação (MEC) nas gestões Lula e Dilma, envolvendo trabalhadoras da educação em todo o Brasil.
Chama a atenção como a proposta se materializou no Congresso e o quanto foi e é defendida por personagens estranhos ao chão das escolas públicas brasileiras, como especuladores financeiros, banqueiros e suas associações e fundações que atuam nas políticas educacionais. Na época, a chamada reforma do ensino médio foi louvada pelo então presidente do Banco Central Ilan Goldfajn como uma das medidas de intervenção econômica do governo que geraram otimismo no chamado mercado.[i]
O atual Ministro da Educação Camilo Santana fez duas afirmações em entrevista à revista Veja do dia 27/01/2023[ii] com as quais é preciso dialogar:
“Acho que a ideia contém aspectos positivos — amplia a carga horária, dá espaço ao ensino profissionalizante e torna o currículo mais flexível, o que pode ser um atrativo para tantos jovens que andam desinteressados da sala de aula. Mas há ponderações que precisamos observar: municípios mais pobres terão condições de fazer uma mudança tão profunda?”.
E sobre rever o novo ensino médio, o ministro afirma: “O fato é que nem esse nem qualquer outro debate podem ser pautados pelo filtro ideológico, que acaba por ofuscar a visão. O melhor caminho é sempre consultar as pesquisas e ouvir o que diz a ciência”.
Sobre a primeira cabe ressaltar que no Art. 10, da secção IV da LDB (Lei 9394/1996) fica claro que a atribuição de garantir o Ensino Médio é prioritariamente de Estados,[iii] não de municípios, então sua pergunta caberia aos sistemas de ensino dos estados brasileiros.
Mas tratando dos pontos positivos a que se refere o Ministro, é possível afirmar: não há flexibilidade, há desestruturação do ensino, enfraquecimento do conhecimento científico a ser oferecido aos estudantes, há quebra da exigência de formação específica para atuação na docência e a organização para a satisfação de necessidades das empresas ou fundações que pretendem vender ensino de má qualidade em pacotes para estudantes ou redes e sistemas de ensino em escala industrial, proporcionando formação ideologizada e distante da ciência – a que chamaremos de mercadorização.[iv]
Esse será um ensino pouco educativo, no sentido da formação que defendemos, e um ensino na formação do homem neoliberal, pessoas que acreditarão em visões fantasiosas sobre meritocracia, possibilidade de ignorar a organização do sistema de exploração em que vivemos, racista, machista, classista e excludente de maneira estrutural.
Sobre o desinteresse dos estudantes, esse é sem dúvidas um elemento fundamental do processo, porque adolescentes e jovens vêem pouco ou nenhum interesse no conhecimento científico e na escola. Mas percebe-se que este problema não somente não foi resolvido, como foi agravado pelo Novo Ensino Médio e que a promessa de poder escolher os itinerários formativos se demonstrou mentirosa, afinal 55% dos municípios tem apenas uma escola de ensino médio, que não tem estrutura nem para manter o modelo original. Que a maioria delas oferece no máximo duas opções e que elas são absolutamente incapazes, por falta de estrutura e pessoas com formação para propor itinerários relevantes e organizados realmente capazes de dialogar com necessidades e motivações da juventude.
Em relação à afirmação sobre a neutralidade científica sugerida, ela já foi debatida e desmontada pela própria ciência que analisa fenômenos sociais como a educação e o projeto educativo de uma nação de tantas formas que não seria possível citar as incontáveis fontes científicas existentes que demonstram sua impossibilidade e inexistência.
Por último e o mais importante: concordamos textualmente com o Senhor Ministro quando ele se refere a propor para a rede o modelo que se comprovou o mais eficaz na formação.
Apesar de não considerarmos que testes de avaliação sejam a principal e muito menos a única referência nessa análise, visto a complexidade do processo educativo em relação ao desenvolvimento do indivíduo e ao projeto social com o qual se relaciona. Enfatizamos: mesmo usando apenas testes como ENEM e PISA como referência alertamos ao ministro que o modelo que o MEC deve defender e oferecer como referência aos demais sistemas de ensino que operam e executam o Ensino Médio jamais seria o Novo Ensino Médio, mas deveria ser o ensino médio técnico integrado proposto e executado pela Rede de Institutos Federais em todo o Brasil.
Mesmo depois de ter passado por um processo de perseguição política e sabotagem pelos governos Temer e Bolsonaro, com cortes profundos nas verbas discricionárias, impedimento de concursos, difamação e perseguição dos trabalhadores e estudantes, entre outros, essa ainda é a rede que exibe os resultados mais relevantes e mesmo impressionantes quando nos referimos à educação pública brasileira historicamente.
Citando apenas a última edição do PISA temos que se destacarmos o desempenho dos estudantes dessa rede, o Brasil tem desempenho semelhante ao dos EUA, acima de estudantes de Espanha e Portugal em Ciências e Leitura e em todas as três áreas analisadas (a terceira é Matemática) é acima da média da OCDE, sempre acima de todos os demais países da América Latina que participam da análise e ficam próximos ou pouco abaixo (em avaliações anteriores em alguns itens inclusive acima) de Coreia do Sul, Canadá e Finlândia. Lembrando que há política de cotas raciais e sociais nessa rede e no mínimo 50% dos estudantes é oriundo de escolas públicas e/ou tem renda familiar abaixo de 1,5 salário mínimo per capita.
*Elenira Vilela é professora de matemática no Instituto Federal de Santa Catarina e Coordenadora Geral do SINASEFE.
*Daniel Cara é professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e membro do Comitê Diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação.