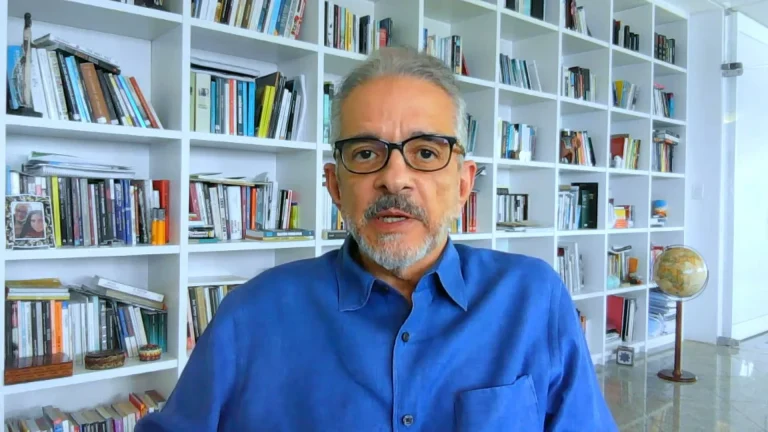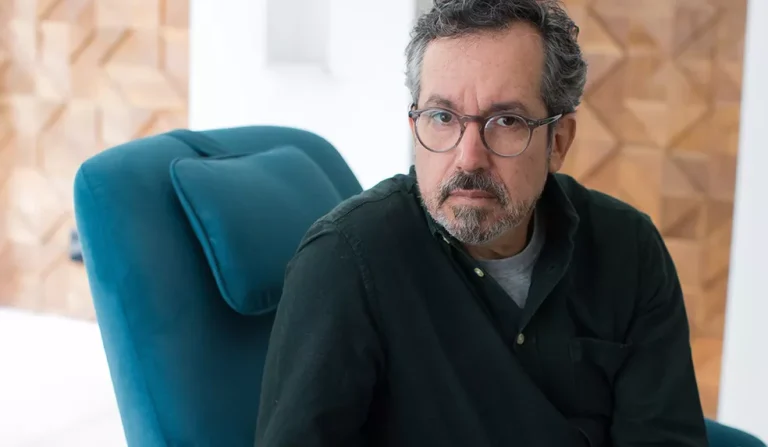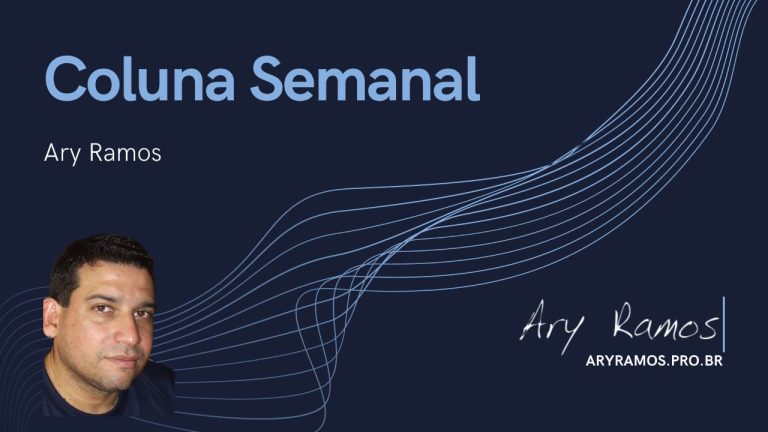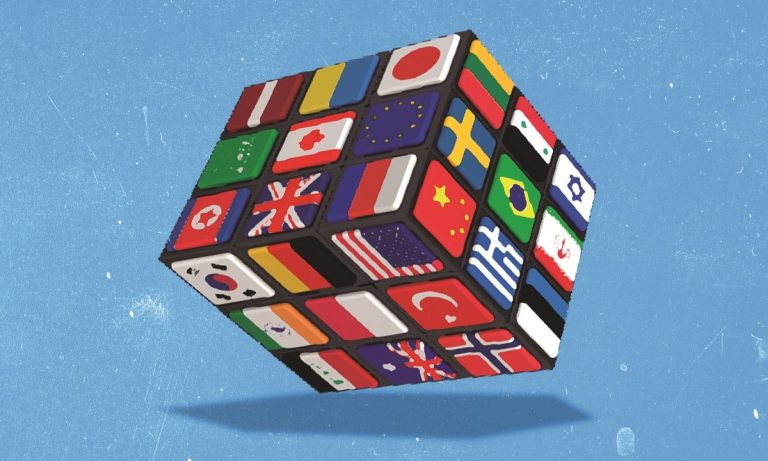Há 85 anos, Palácio da Guanabara estava desguarnecido na hora do ataque e forças de segurança demoraram a chegar
Antonio Lavareda, Doutor em ciência política e professor colaborador da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco). Presidente de honra da Abrapel (Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais)
Folha de São Paulo, 29/01/2023
[RESUMO] O Brasil sofreu 13 investidas golpistas desde a Independência, entre as quais o ataque aos três poderes no último dia 8. A ação dos bolsonaristas guarda semelhanças com o levante da AIB (Ação Integralista Brasileira) em 1938. Nesses episódios, os golpistas encontraram a residência e a sede da Presidência desguarnecidas, as forças de segurança demoraram a chegar e houve omissão de setores do Exército. Resta saber se o futuro da nova extrema direita será melhor que o do fascismo tropicalizado dos anos 1930, que entrou em declínio após a Segunda Guerra.
Alguns fenômenos políticos, sobretudo quando inusuais e estrepitosos, ao ocorrerem tornam irresistíveis os exercícios comparativos. É quando a leitura dos fatos os coloca em perspectiva, permitindo identificar singularidades, de um lado, e constantes históricas, de outro.
O 8 de janeiro, que despertou estupor no mundo, por certo demandará um olhar assim quando as investigações descortinarem toda a sua tessitura, incluindo, além dos vândalos, a autoria intelectual e os apoiadores explícitos e ocultos e esclarecendo como se dava a relação entre os quartéis e os acampados à sua frente.
Nós não temos, que eu saiba, um estudo comparativo suficientemente amplo desses processos de tomada violenta do poder na América Latina, embora o continente seja pródigo deles. Nem mesmo das revoluções havidas —do que, aliás, já reclamava Joaquim Nabuco (1849-1910) em sua releitura do fim trágico do presidente chileno José Manuel Balmaceda— e muito menos no Brasil, onde, desde a Independência, tivemos 13 golpes de Estado, exitosos ou não.
Eles se distinguem dos movimentos separatistas, como a Confederação do Equador (1824) ou a Guerra dos Farrapos (1835-1845). Diferem também de outros conflitos como a Revolução Constitucionalista de São Paulo (1932) e mais ainda dos movimentos revoltosos tenentistas, incluída a Coluna Prestes (1924).
Golpes ou autogolpes implicam o assalto direto aos Poderes e objetivam a ruptura constitucional. Foram de iniciativa palaciana os de 1823 (dissolução da Assembleia Constituinte), 1840 (Golpe da Maioridade), 1891 (Deodoro fecha o Congresso) e 1937 (Estado Novo). O de Marechal Deodoro durou apenas 20 dias.
Todos os demais tiveram como objetivo a destituição ou o impedimento dos então chefes de Estado. Começando pela implantação da República (1889), depois pela Revolução de 1930, que culminou com o golpe militar que depôs Washington Luiz, pela Intentona Comunista (1935), pelo Levante integralista de 1938, pela deposição de Vargas (1945), pelo chamado contragolpe legalista do marechal Lott (1955), pela adoção forçada do parlamentarismo (1961), pelo golpe militar de 1964, que inaugurou a Quinta República, e pelo assalto às sedes dos três Poderes em janeiro de 2023. Golpes e autogolpes vitoriosos foram 70% deles.
Houve movimentos com menor ou maior participação popular, mas a constante irrefutável é a participação de “cidadãos armados”, os militares. Nunca foi minimamente plausível subverter o regime sem a sua participação, e o tamanho da adesão dos mesmos sempre foi a principal variável explicativa do êxito ou do fracasso dessas iniciativas.
A breve compilação acima dos eventos anteriores de igual natureza nos permite identificar um único episódio que guarda alguma similaridade com o golpe frustrado do início deste ano: o putsch da AIB (Ação Integralista Brasileira), o fascismo tropicalizado, em 11 de maio de 1938, uma semana após o fechamento da entidade pelo governo Vargas.
Os que atacaram, 85 anos atrás, o Palácio Guanabara, residência presidencial à época, também o encontraram desguarnecido, tal como se deu em Brasília nos prédios do Planalto, Congresso e Supremo, quando horas foram decorridas até que os responsáveis pela segurança enfrentassem os invasores.
Como lembra Lira Neto, no golpe integralista eram poucas dezenas de atiradores, mas não se via inicialmente qualquer mobilização dos milhares de militares acantonados no Rio de Janeiro para sufocar o levante, que era enfrentado na madrugada pelos funcionários do Palácio, alguns militares leais ao presidente e por Vargas e seus familiares empunhando armas.
O tenente Júlio Barbosa, oficial do dia, facilitou a entrada, por um portão lateral, dos invasores chefiados pelo também tenente Severo Fournier. Ele também restringiu propositalmente a munição da tropa incumbida da guarda, que terminou se rendendo aos golpistas.
Mesmo comunicada, a polícia demoraria horas para enviar reforços e foram visíveis as omissões de setores do Exército e da Marinha, cujo prédio também foi ocupado. Os atacantes só foram rechaçados após a chegada decisiva do general Dutra, então ministro da Guerra, cuja presença sinalizou o apoio da cúpula das Forças Armadas ao presidente. A lógica da operação estava desfeita.
O objetivo era eliminar fisicamente o presidente e, no vácuo político, abrir caminho para os militares, entre os quais havia um sem número de simpatizantes do integralismo, tomarem o poder. Suspeitos de envolvimento ou simpatia foram, entre outros, o almirante Guilhem, o general Góis Monteiro, admirador confesso de Hitler, e Filinto Müller, o chefe de polícia famoso pela repressão sanguinária. Mas Vargas, ditador dependente dos aliados militares, não quis esclarecer a participação deles. Anos depois seria deposto por Góis.
Quanto à autoria intelectual, esse papel coube a Plínio Salgado, depois preso e exilado em Portugal. Líder do movimento que chegou a contar com 1,5 milhão de adeptos por todo o Brasil, ele se sentiu traído por Getúlio, que mandara fechar as sedes da AIB, colocando-a na ilegalidade, após ter contado com seu apoio no combate aos comunistas e na criação do Estado Novo. Ou seja, o golpe de 1938 foi urdido por um movimento político, o integralismo, com apoio na sociedade civil e ramificações incontroversas nas Forças Armadas e na polícia do Rio de Janeiro.
A lógica da tentativa de golpe de 2023, mesmo sem tiroteios como seu congênere da Terceira República, foi basicamente a mesma. Visava surpreender e desarticular o sistema político, promovendo um cenário caótico nas sedes dos três Poderes, o qual, transmitido pelas redes sociais e repercutindo nas TVs, obrigaria, no entendimento dos seus idealizadores, a “intervenção militar” reclamada desde a vitória do novo presidente pelos acampamentos à frente dos quartéis, com milhares de radicais que imaginavam ter suas teses acolhidas, interpretando dessa forma a leniência dos chefes militares que admitiram essas concentrações, não o bastante suas faixas e redes sociais afrontarem a Constituição.
Lembrando que a ideia de intervenção no TSE, no último mês do mandato de Bolsonaro, na prática um autogolpe como a famosa minuta do decreto evidenciou, provavelmente foi descartada por insuficiência de adesão das altas patentes.
Os participantes de agora foram extraídos de um movimento antissistema de extrema direita que, ao invadir e destruir os prédios que simbolizam a República, removeram as últimas dúvidas sobre o caráter regressivo de sua liderança, movida pela nostalgia do regime militar de 1964.
O bolsonarismo, no segundo turno do ano passado, aproximou-se da metade da votação presidencial válida, e o partido que o abrigou (PL) logrou eleger a maior bancada da Câmara Federal. Tal como a antiga AIB, tem conexões internacionais —é o capítulo local da nova direita mundial— e se mostrou bem mais enraizado que seu predecessor da primeira metade do século 20.
Em expansão no mundo, o futuro dessa vertente não parece comprometido, como se deu com as ideias fascistas que, após empolgarem porções significativas do Ocidente, entraram em derrocada juntamente com o Eixo na Segunda Guerra. Nadando nessa raia, o integralismo brasileiro declinaria durante o conflito e nunca se recuperou da mancha de 1938. Quando sobreveio a redemocratização, tampouco conseguiria reaver a força original.
Ao disputar finalmente a Presidência, em 1955, Plínio Salgado só alcançou 8,3% dos votos. Somente na região Sul chegou aos dois dígitos (14,2%). Em toda a República do Pós-Guerra, a direita seria representada pela UDN, que terminaria encapsulando o populista Jânio Quadros para finalmente ganhar a eleição de 1960. Plínio continuaria sua caminhada com horizonte mais modesto. Seria deputado por São Paulo, apoiador do golpe militar de 1964 e depois vice-líder da Arena na Câmara dos Deputados.
Não é fácil divisar o futuro do bolsonarismo. Vai depender do aprofundamento das investigações e da eventual responsabilização e inelegibilidade de Bolsonaro, sobre o qual pesam suspeitas de participação no possível autogolpe de dezembro e no golpe de janeiro. Também dependerá do posicionamento que seus líderes —o ex-presidente e parlamentares— venham a adotar.
Para qualquer evento futuro, sempre haverá no mínimo duas rotas possíveis para os personagens, como Churchill nos mostrou escrevendo o perfil de Hitler em 1935.
Prevalecerá a retórica antissistema, baseada no mito da fraude nas urnas? Ou essa página será virada, como aliás já fizeram os governadores desse campo, e o enfrentamento se dará como oposição “normal”?
Na primeira hipótese, o movimento, uma vez inviabilizado legalmente o líder, apresentaria uma candidatura do clã. Perderia certamente densidade eleitoral, deixando de ser competidor efetivo pelo poder nacional.
Já na segunda opção, novos nomes disputariam o espólio bolsonarista, distanciando-se do fantasma do 8 de Janeiro, embora sempre equilibrando-se para contar com as bênçãos do ex-presidente e tentar, assim, manter a hegemonia à direita no espectro ideológico.