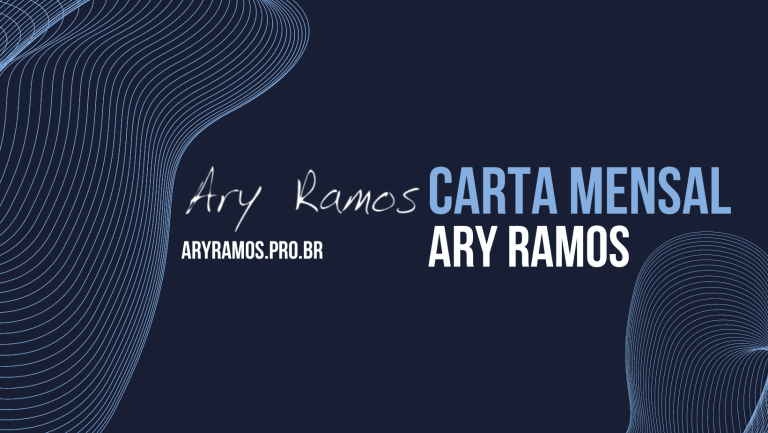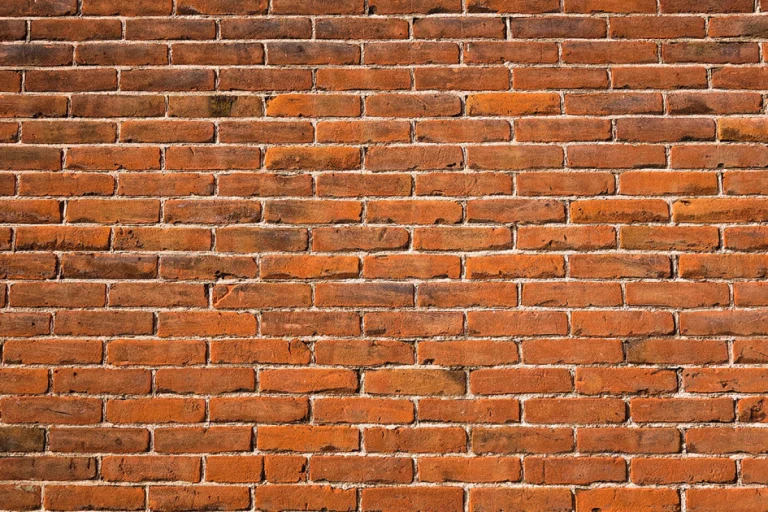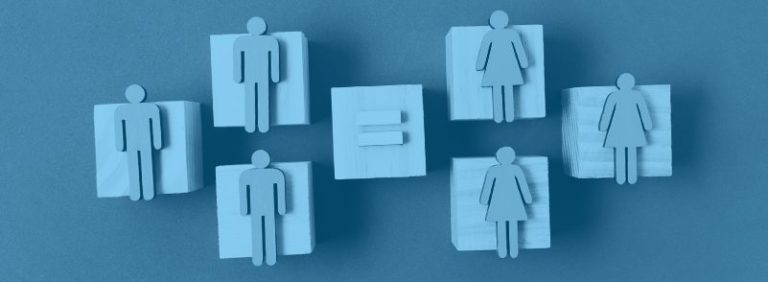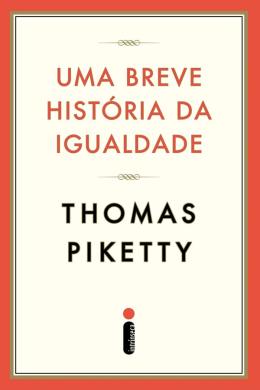Fenômeno se manifesta em conservadorismo que alia forte individualismo e desconfiança no Estado
Breno Barlach, Sociólogo e mestre em ciência política pela USP, com participação como pesquisador visitante na Cornell University (EUA). É diretor de pesquisa e inovação da Plano CDE, instituto de pesquisas sociais e de inteligência de mercado focado nas classes populares (C, D e E) brasileiras
Vinícius Mendes, Jornalista e sociólogo, mestre em sociologia pela USP
Folha de São Paulo, 25/09/2022.
[RESUMO] Precarizados e sujeitos a rendas incertas, milhões de brasileiros da classe C reforçam um discurso de empreendedorismo que, para eles, reflete uma condição em que são descartáveis no mercado de trabalho. A tradução política desse fenômeno é um tipo de conservadorismo que alia forte individualismo e desconfiança no papel do Estado, apontam pesquisadores.
Bacharéis inconformados sob o volante de um carro de aplicativo. Autônomos ansiosos com uma crise que não termina, embora estejam melhores que os informais, extenuados em longas jornadas para segurar o orçamento do mês com dificuldade. “Pejotas” inseguros em seus empregos, à espera de uma próxima oportunidade que os manterá na mesma condição.
Essa realidade de boa parte da massa de trabalho brasileira não é apenas uma fotografia do presente. Nessas mesmas condições, muitas pessoas ascenderam na primeira década do século 21, mas agora experimentaram os impactos de uma crise que perdura, ainda mais depois da Covid-19.
É dessa perspectiva que elas vislumbram o futuro imediato e, a partir disso, tomam suas decisões políticas.
Dados da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), analisados pela Plano CDE, instituto de pesquisas sociais e de inteligência de mercado, iluminam essa estrutura econômica com clareza: de 2015 para cá, a proporção de rendimentos oriundos de fontes incertas, como atividades informais ou por conta própria, sem contar os “bicos”, se manteve em torno de 43% da composição total do orçamento das famílias da chamada classe C, que representa metade da população.
Um número que mostra como esse tipo de arranjo baseado em uma conjunção de informalidades foi se tornando uma característica comum da economia nacional, sempre interpretada à luz dos diferentes contextos do país.
Nos anos de bonança, essa era uma situação quase imperceptível. No pano de fundo daquele período, porém, essas camadas já nutriam uma insatisfação com a dificuldade em encontrar um emprego celetista ou em ter estabilidade financeira. Só não era uma sensação profunda a ponto de superar o otimismo inevitável que se tinha com os rumos pessoais e, por consequência, com os do país.
Agora as circunstâncias são outras, e não é à toa que se vê a ascensão de um conceito torto de “empreendedorismo” para dar conta delas. Trata-se da narrativa econômica triunfante de um Brasil em crise. Ela diz que esses “empreendedores” seriam o que de mais livre, do ponto de vista econômico, o país produziu em muito tempo.
No Brasil popular, o empreendedorismo ganha outros nomes, embora mantenha o mesmo núcleo de valor: nas pesquisas qualitativas feitas nos últimos anos pela Plano CDE com esse público, que representa 100 milhões de pessoas com renda familiar per capita mensal entre R$ 500 e R$ 1.500, ele aparece ora como “corre”, ora, em uma associação essencialmente masculina, com a imagem do “batalhador” —o homem provedor da casa que se enxerga como baluarte de uma configuração social que premia qualquer mérito individual.
Trata-se de um sujeito sempre em competição com outros batalhadores, todos de vida parecidas. Nessa visão de mundo, é central a ideia de que o esforço de cada um determina a posição social que se ocupa —métrica que naturaliza a própria precariedade como mão de obra no mercado.
Esse grupo é composto de autônomos sujeitos à demanda e entregadores de comida, jovens universitários em busca do primeiro emprego e recém-formados desempregados pendurados em “bicos”, motoristas de aplicativos e a multidão de MEIs (microempreendedores) à espera de uma convocação.
Todavia, mais que empreendedores, eles também se definem como descartáveis. Em outras palavras, a narrativa da “liberdade do empreendedor” tenta esconder uma realidade mais perversa.
Nela, eles se sujeitam, por “conta própria”, à instabilidade constante do mercado de trabalho, recebem os mesmos salários há pelo menos meia década e ficam à mercê de fontes alternativas de renda para conseguir chegar até o fim do mês.
Em muitos casos, vivem quase totalmente desses rendimentos incertos e voláteis. Esses trabalhadores notam que o trabalho que oferecem é uma moeda de pouco valor no mercado, facilmente substituível e, por isso mesmo, repleto de incertezas.
Assim, se são alvos do discurso do empreendedorismo, é justamente porque já estão inseridos nesse contexto de descartabilidade. É desse jeito que observam a vida, os outros ao redor, o Estado, o país onde vivem.
O limite dessa realidade se observa na falta de perspectivas dos mais jovens: se até alguns anos atrás havia alguma esperança de que o curso universitário fosse o caminho mais sólido para mudar uma trajetória familiar: a geração que chegou ao ensino superior a partir de 2010, sobretudo por meio dos programas de auxílio estudantil, percebeu que a história não era mais desse jeito.
Nas duas últimas décadas, houve um crescimento exponencial de pessoas que concluíram a graduação, mas elas não se inseriram no mercado de trabalho como imaginavam. Muitas acabaram descartadas em empregos que, na maioria dos casos, nem sequer exigem o diploma e quase sempre oferecem salários baixos e padrões precários.
Nesse mundo, a informalidade reina. É por isso que cresceu o volume de pessoas com curso superior que trabalham por conta própria: no terceiro trimestre do ano passado, por exemplo, eles já somavam 4 milhões, como mostrou a Folha.
Esse grupo é mais sensível a essa descartabilidade porque levou adiante o projeto que prometia mudar a trajetória familiar e hoje engrossa a lista de inadimplentes do Fies, que teve um salto de 300% entre 2019 e 2021, segundo dados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Foi da crise atual que se colocou sobre a ascensão social da classe C que muitas análises extraíram uma mesma conclusão: o bolsonarismo, como fenômeno social, seria resultado, principalmente, de um ressentimento dessas camadas.
A crítica a esse argumento já foi feita pela antropóloga Rosana Pinheiro-Machado: tal sentimento negativo explica melhor a reação raivosa dos trabalhadores do Norte à crise dos empregos, como o trumpismo nos EUA, que a realidade dos sujeitos ao Sul, que nem chegaram a ter um trabalho formal para poder perdê-lo.
Para Pinheiro-Machado, o bolsonarismo é o sucesso definitivo de toda essa narrativa individual: o presidente encampa esse discurso e promete institucionalizá-lo. Mas não é só isso. Nos nossos estudos, é visível também como essas camadas compartilham a sensação de que foram enganadas.
Naquele momento em que o país prometia uma ascensão permanente, em que o bom momento da economia era experimentado no cotidiano, elas construíram seus projetos de futuro vislumbrando exatamente o contrário desse cenário de descartabilidade: uma formação universitária daria empregos mais seguros, o mercado de trabalho não seria um universo de precariedades e a renda não estaria em constante ameaça.
Enfim, elas esperavam uma transformação real, uma mudança na trajetória familiar que, de fato, foi prometida. É, então, mais do que só ressentimento ou uma vitória definitiva da narrativa individual: é ainda uma cobrança incisiva pelo que esperavam ter neste momento.
A tradução política desses sentimentos não terminou. O empreendedorismo à brasileira encontrou em Jair Bolsonaro a sua representação momentânea.
Descartadas no mercado de trabalho, cada vez mais abandonadas à própria sorte, essas pessoas tendem a elaborar uma visão de mundo conservadora, o que também representa uma formação política.
No centro dela está, sem dúvida, o batalhador, o protagonista do corre que segura as contas do mês na viração —no bico, no trabalho informal, na atividade autônoma ou na conjunção de todas elas. Nas pesquisas da Plano CDE, essa perspectiva comum aparece como um “conservadorismo moderado”, tendo em vista alas mais radicais que compõem a base de apoio irrestrito ao governo atual.
Esse grupo diz que o Estado não é só corrupto, como também promotor de desigualdades, pois produz políticas apenas para os mais pobres ou para detentores de “privilégios”, como seriam os negros no caso das cotas raciais.
Vem daí a adesão a uma ideia de Estado mínimo, cujo papel principal seria não atrapalhar quem está no corre, embora tivesse a obrigação de criar “oportunidades” de empregos que os contemplasse.
Há também a individualização da política, a crença de que as soluções não deveriam ser coletivizadas, já que o futuro depende do esforço de cada um. É nesse sentido que programas de transferência de renda, como o antigo Bolsa Família, soam como aberrações.
Essa visão de mundo se encaixa muito bem ao contexto familiar; o esforço individual é um valor transmitido às próximas gerações como forma de fazer surgir um país menos desigual. Bicos e trabalhos por conta própria são mais que o corre cotidiano, são a saída para o país.
Descartáveis não apenas no mercado, mas em seus próprios corpos, já que são objeto da violência urbana, materialmente insatisfeitos, mas convencidos pela narrativa do empreendedorismo, integrantes da classe C veem no Brasil um estado de pré-contrato social, um conflito cotidiano em que cada um luta por si e pelos seus.
Lidar com essa experiência da maioria da população é o desafio da eleição de outubro. Há caminhos possíveis para diálogo, e o primeiro deles é refinar o discurso em torno da CLT. Criada para promover segurança, ela não se encaixou em um país em que os empregadores são eles mesmos parte da base da pirâmide.
É preciso ainda reestabelecer alguma confiança em soluções públicas para os problemas do Brasil. As ineficiências do Estado têm contribuído para a desconfiança nutrida diante de qualquer proposta de política pública endereçada a grupos mais vulneráveis.
Milhões de brasileiros compõem esse vasto campo dos que não recebem benefícios dos programas do governo e nem acessam os melhores empregos.
Essa condição se transforma em uma posição social que, há quase uma década, dá o tom também da política nacional. O conservadorismo dos descartáveis está posto, e o desafio é agir agora para que ele não permaneça no horizonte do Brasil.