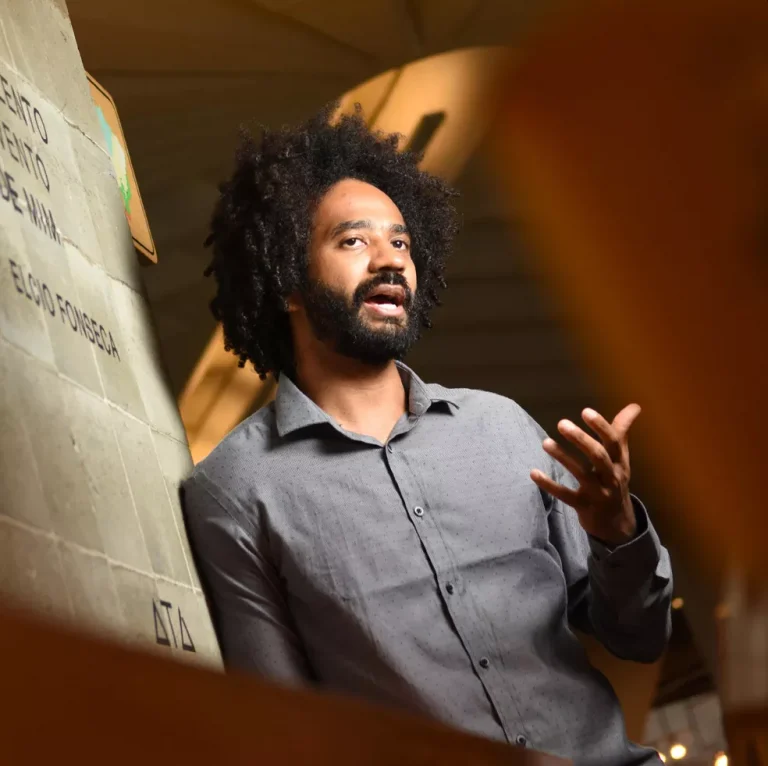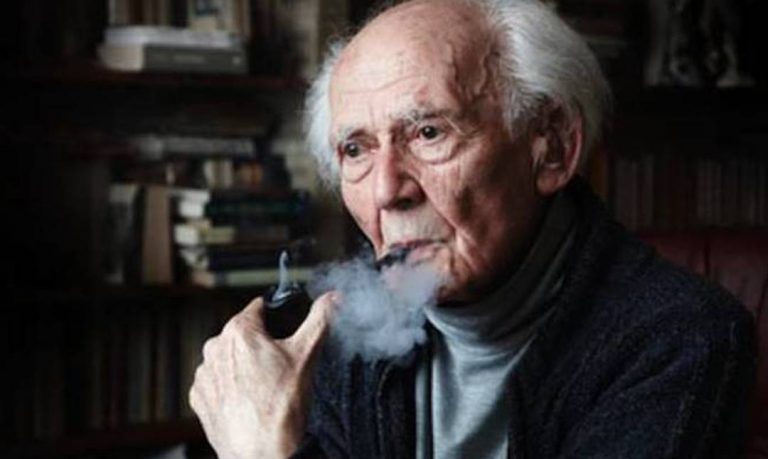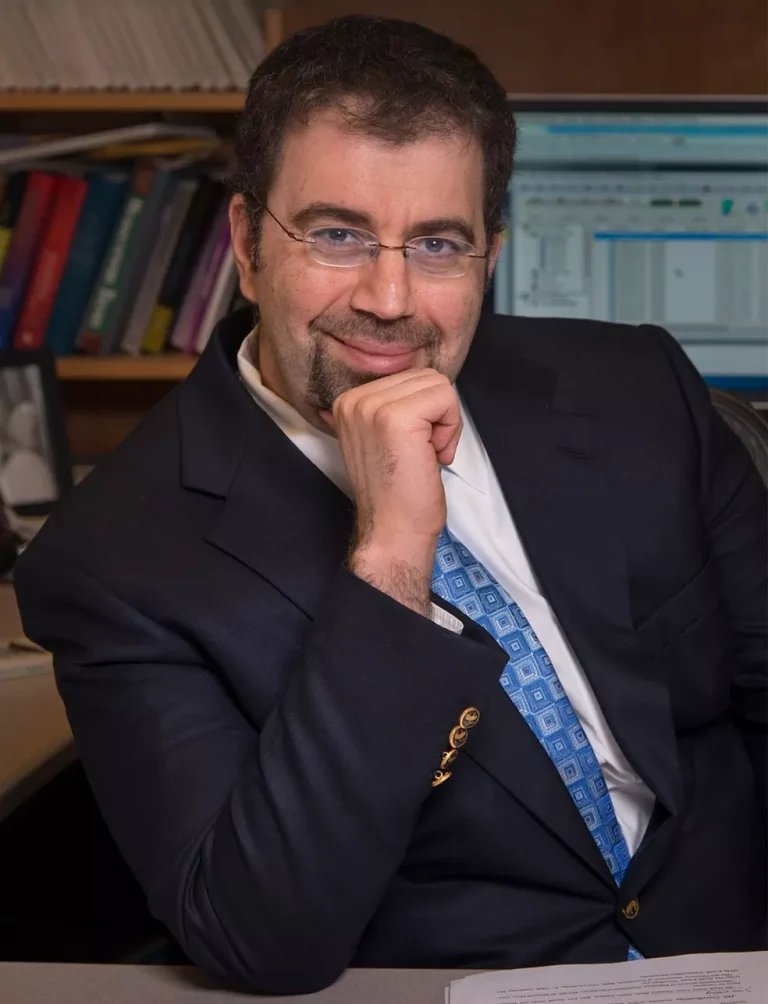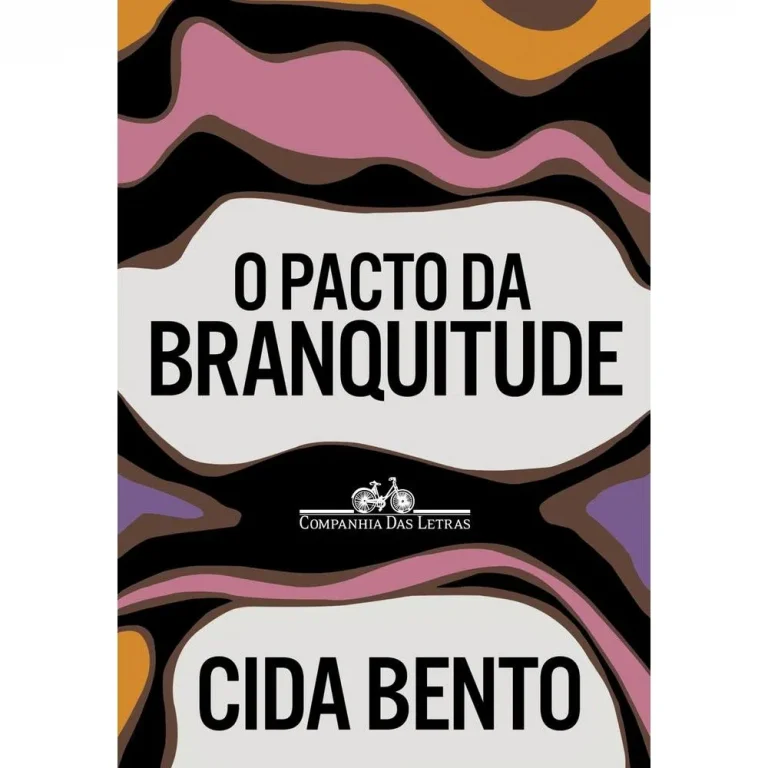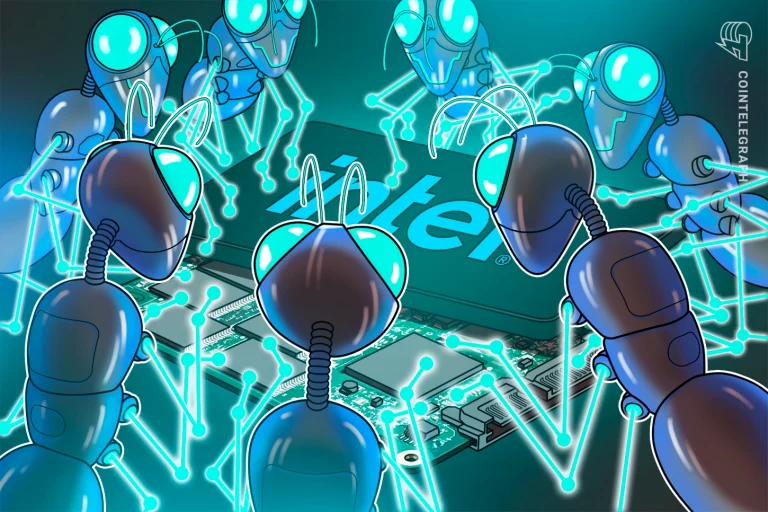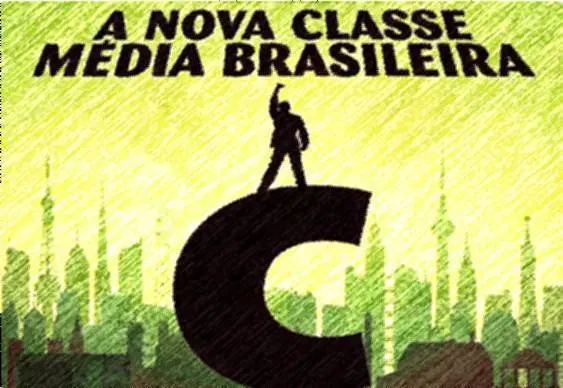Mundo online forja novo totalitarismo, aponta o filósofo em recente livro. Esfera pública é pervertida: emerge comunicação sem comunidade. Verdade vira borrão e, através de algoritmos e autoexploração, desejos coletivos são reduzidos ao eu
Por Fernando D’Addario, no Pagina 12 | Tradução: Roney Rodrigues
Outras Palavras, 30/05/2022
Byung-Chul Han é um operador saudável do quadro social e comunicação que expõe seu trabalho: seus livros são breves, rápidos, transparentes. Cada um deles propõe apenas um punhado de conceitos, facilmente reduzidos a uma frase-slogan que flui através das redes sociais e funciona como um “coringa” para reforçar opiniões de diversas índoles. Sua grande contribuição ao pensamento nas últimas décadas certamente foi sua análise do indivíduo autoexplorado, o novo sujeito histórico do capitalismo. Mas, além dessa ideia-força, o principal mérito do filósofo coreano é ter captado a “atmosfera” dessa época para, dessa forma, traduzi-la em textos nos quais um cidadão comum com certa sensibilidade – política, cultural, trabalhista – se sente refletido.
Em seu último livro, Infocracia [2022], ainda sem tradução no Brasil, Han explora como o “regime de informação” substituiu o “regime disciplinar”. Da exploração de corpos e energias – tão bem analisadas por Michel Foucault em sua época — passamos à exploração de dados. Hoje o signo dos detentores do poder não está ligado à posse dos meios de produção, mas ao acesso à informação, que é utilizada para a vigilância psicopolítica e a previsão do comportamento individual.
Em sua exposição genealógica, Han descreve o declínio desse modelo de sociedade dissecado pelo autor de Vigiar e Punir, e encontra pontes com outros autores do século XX como Hannah Arendt, de quem resgata certas abordagens do totalitarismo. Han diz que hoje estamos submetidos a um novo tipo de totalitarismo. O vetor não é mais o relato ideológico, mas a operação algorítmica que a sustenta.
O filósofo circunda os temas que já havia exposto em outras obras (a compulsão à performance que descreveu em A sociedade do cansaço; o surgimento de um habitante voluntário do panóptico digital, encarnado em A sociedade da transparência; o comodismo frente ao imperativo do like como analgésico do tempo presente, abordado em A sociedade paliativa), mas centra-se na mudança estrutural da esfera pública, atravessada pela indignação digital, que fragiliza o que outrora entendíamos como democracia.
Han argumenta que nesta sociedade marcada pelo dataísmo, o que está ocorrendo é uma “crise da verdade”. Ele escreve: “Esse novo niilismo não significa que a mentira se faça passar como verdade ou que a verdade seja difamada como mentira. Ao contrário, mina a distinção entre verdade e mentira”. Donald Trump, um político que opera como se ele próprio fosse um algoritmo e só se orienta pelas reações do público expressas nas redes sociais, não é, nesse sentido, o mentiroso clássico que deturpa deliberadamente as coisas. “Ao contrário, [ele] é indiferente à verdade dos fatos”, diz o filósofo. Essa indiferenciação, continua Han, representa um risco maior para a verdade do que aquele instaurado pelo mentiroso.
O pensador coreano diferencia os tempos atuais daqueles não muito distantes quando dominava a televisão. Ele define a TV como um “reino das aparências”, mas não como uma “fábrica de fake news”. Destaca que a telecracia “degradava as campanhas eleitorais a ponto de transformá-las em guerras de encenações midiática. O discurso foi substituído por show para o público”. Na infocracia, por outro lado, as disputas políticas não degeneram em espetáculo, mas em “guerra de informação”.
Porque fake news também é, antes de tudo, informação. E sabe-se que “a informação se espalha mais do que a verdade”. Por isso, conclui com o pessimismo que lhe é próprio: “A tentativa de combater a infodemia com a verdade está, portanto, fadada ao fracasso. Ela é resistente à verdade”.
Define a situação atual com uma frase-slogan que o autor de Não-coisas tanto gosta: “A verdade se desintegra em poeira informativa transportada pelo vento digital”.
Mas como essa vítima é varrida pelo vento digital? Como se comporta? “O sujeito do regime de informação não é dócil nem obediente. Pelo contrário, acredita-se livre, autêntico e criativo. Ele se produz e realiza a si mesmo”. Esse sujeito – que no sistema atual também se realiza como objeto – é simultaneamente vítima e vitimizador. Em ambos os casos a arma utilizada é o smartphone.
Por meio dessa ferramenta, a mídia digital pôs fim à era do homem-massa. “O habitante do mundo digitalizado não é mais aquele ‘ninguém’. Mas é alguém com um perfil, enquanto que na era das massas só os criminosos tinham perfil. O regime de informação se apodera dos indivíduos elaborando perfis comportamentais”.
O grande feito da infocracia é ter induzido em seus consumidores/produtores uma falsa percepção de liberdade. O paradoxo é que “as pessoas estão presas à informação. Elas mesmo se colocam grilhões aos comunicar e produzir informações. A prisão digital é transparente”. É precisamente esse sentimento de liberdade que garante a dominação.
Por fim, atualiza o mito platônico: “Hoje vivemos aprisionados em uma caverna digital mesmo acreditando que estamos livres”.
É uma revolução nos comportamentos que exclui qualquer possibilidade de revolução política. Diz Han: “Na prisão digital como uma zona de bem-estar inteligente não há resistência ao regime prevalecente. O like exclui qualquer revolução”>
Em tempos de microtargeting eleitoral, porém, ocorre um fenômeno paradoxal: a tribalização da rede. Interesses segmentados que se expressam por meio de discursos previamente elaborados e que aos poucos vão corroendo o que Jürgen Habermas definiu teoricamente como “ação comunicativa”. “A comunicação digital como comunicação sem comunidade destrói a política baseada na escuta”, escreve Han, enfatizando que no antigo processo discursivo os argumentos poderiam ser “melhorados”, ao passo que agora, guiados por operações algorítmicas, dificilmente são “otimizados” em função do resultado que se almeja.
É a direita que a mais capitaliza esse fenômeno de tribalização da rede, assegura o filósofo, porque nessa franja a demanda por “identidade do mundo vital” é maior. Em uma sociedade desintegrada em “irreconciliáveis identidades sem alteridade”, a representação, que por definição gera uma distância, é substituída pela participação direta. “A democracia digital em tempo real é uma democracia presencial”, que ignora sua esfera natural de representação: o espaço público. Isso leva a uma “ditadura tribalista de opinião e identidade”.
O sujeito autoexplorado da sociedade do cansaço, o habitante voluntário da sociedade transparente, o indivíduo que se entrega à sociedade paliativa, também se submete, conclui Han, à fórmula do regime de informação: “comunicamos até morrer”.