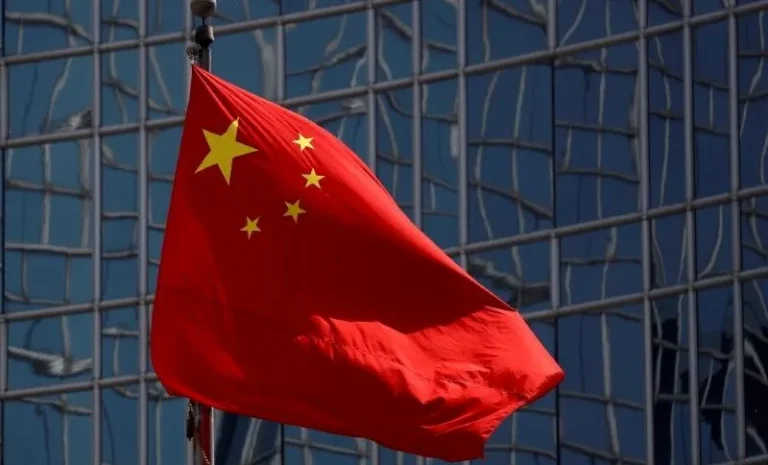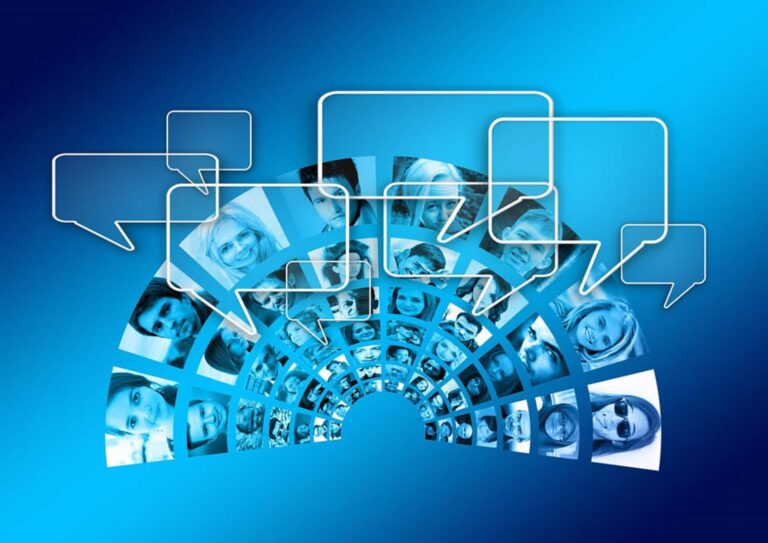Em entrevista ao GLOBO, economista Isabella Weber diz que não existe um ‘modelo chinês’ a ser transplantado, mas que outros países podem tirar lições da experiência da potência asiática
André Duchiade
O Globo – 18/07/2021
Na década de 1980, um dos grandes debates entre os líderes chineses que sucederam Mao Tsé-tung era como reformar a economia e gerar crescimento. A China deveria adotar uma terapia de choque que destruísse o funcionamento da economia socialista, ou poderia usar mecanismos da economia planificada para assim criar um mercado?
Como essa discussão se desenrolou e conduziu a uma política diferente da seguida pelas ex-repúblicas soviéticas e o Leste Europeu é o tema de um dos livros mais comentados no campo da economia deste ano: “How China Escaped Shock Therapy” (“Como a China escapou da terapia de choque”).
Sua autora, a professora de Economia Isabella Weber, da Universidade de Massachusetts em Amherst, ainda se surpreende com o sucesso de sua obra de estreia, uma das indicações de leitura do Financial Times. Em entrevista ao GLOBO, ela fala sobre a economia chinesa ontem e hoje, e sobre o que Pequim aprendeu com o Brasil.
No livro, várias vezes a senhora afirma que o caminho seguido pela China não era inevitável. Qual foi a principal diferença da transição chinesa para uma economia de mercado em comparação a outros países socialistas?
A comparação com a Rússia, que seguiu uma política de terapia de choque, é o que mais chama a atenção. As circunstâncias políticas eram muito diferentes entre os países, claro, mas as políticas econômicas foram drasticamente distintas. Após a implementação da terapia de choque, a Rússia passou por um período de recessão mais prolongado do que os EUA na década de 1930. Isso também desencadeou em uma crise social muito profunda. Em contraste, na China, embora também tenha havido tensões sociais e desigualdades, em vez de uma recessão profunda e hiperinflação, houve um crescimento muito rápido, descrito como sem precedentes em ritmo e escala na História moderna. E, no lugar da hiperinflação, houve uma estabilidade geral de preços.
O que era a terapia de choque, exatamente?
Trata-se de um pacote de políticas específico, que deveria ser composto por quatro elementos: primeiro, a liberalização de preços o mais rápido possível, combinada com a austeridade macroeconômica. A liberalização dos preços deveria provocar um choque no sistema e levá-lo a um novo estágio. A austeridade macroeconômica, por sua vez, visava estabilizar o nível geral de preços. Essas medidas deveriam ser seguidas por privatizações e liberalização comercial. O elemento de choque, de fato, era a liberalização de preços da noite para o dia, o chamado Big Bang. A terapia de choque é uma doutrina de transição, que assume que a economia está mudando de equilíbrio.
Por que a China buscou um caminho diferente?
A China escapou da terapia de choque antes que ela fosse adotada na Europa Oriental ou na Rússia, antes de suas consequências serem conhecidas. Por que não a adotaram? Por terem à disposição uma abordagem alternativa para a reforma, o chamado sistema de duas vias. Este sistema se desenvolveu a partir das reformas agrícolas e depois foi transferido para a economia industrial urbana. Em vez de dar um choque no sistema, o governo chinês manteve relações de comando que eram características da economia planificada. Ao lado disso, permitiu também que as unidades produzissem acima do planejado, para o mercado. À medida que começaram a produzir para o mercado, as próprias unidades de produção mudaram a sua lógica de operação.
As duas abordagens, a chinesa e a de choque, tiveram algum papel nos resultados políticos posteriores?
Sim. Na Rússia, o desmonte do Estado comunista era considerado uma condição indispensável para a adoção da terapia de choque. Portanto, não é que a terapia de choque tenha ocasionado a transição política, e sim que transição política provocou a terapia de choque. Já os chineses chegaram perto de adotar a mesma doutrina, mas, sempre que quase o fizeram, recuaram. Em última análise, o compromisso com a estabilidade social e política e com o monopólio de poder do Partido Comunista era tão forte que parecia perigoso demais. Isso aconteceu porque o Partido Comunista continuava no poder, e sua liderança ainda era influenciada por pessoas que eram da primeira geração revolucionária. A primazia do Estado comunista era fundamental.
Podemos especular sobre quais teriam sido seus efeitos?
Não é inconcebível que a terapia de choque na China tivesse desencadeado um caos econômico tão dramático que poderia ter induzido uma transição política. É uma questão aberta o que teria acontecido politicamente, mas poderia ter havido consequências políticas de alcance muito amplo.
A senhora também discute como os reformistas buscam inspiração em outros lugares, inclusive com o Brasil…
No final dos anos 1980, o problema da inflação começou a ser bastante grave na China. Discutia-se muito se seria possível alcançar a industrialização sem inflação, ou se ela poderia ser administrada. As experiências latino-americanas se tornaram assim muito relevantes para Pequim. Na época, o milagre brasileiro já estava há muito encerrado, mas as conquistas da industrialização ainda estavam aí. Então, quando a delegação chinesa visitou o Brasil, impressionou-se muito, com a modernidade de Brasília, com o número de carros, os padrões de vida e assim por diante. Portanto, a China estava olhando para o Brasil em termos de seu nível de desenvolvimento. Ao mesmo tempo, tentou aprender com a experiência inflacionária brasileira para evitar algumas das dificuldades.
E quais foram os aprendizados?
Há uma grande controvérsia de quais foram exatamente as implicações dessas aulas brasileiras. Alguns dizem que uma delegação voltou do Brasil em 1988 e disse que a inflação é inevitável no processo de desenvolvimento, e, portanto, não deveriam se preocupar muito com isso. Mas, a meu ver, voltaram do Brasil e disseram: sim, eles disseram que a inflação é inevitável. Mas isso não quer dizer que não temos que nos preocupar com isso, e, sim que devemos administrá-la com muito cuidado.
Em suas palestras e entrevistas, a senhora jamais afirma que a China ofereça uma alternativa real de modelo econômico. Por quê?
O modelo da China foi desenvolvido de uma forma gradual, sempre levando as circunstâncias históricas específicas locais extremamente a sério, e introduzindo lições de outros países a partir de reflexões sobre quais eram as condições nesses outros países. Portanto, se levarmos essa lógica a sério, não acho que podemos agora pegar o modelo chinês como um todo e apenas transplantá-lo para outro contexto. Mas isso não significa que não haja lições da experiência de desenvolvimento chinesa que possam ser adaptadas.
E que lições seriam essas?
Uma grande lição no contexto do declínio do neoliberalismo é, claro, um papel muito mais ativista do Estado, que envolve a participação do Estado em mercados específicos, o que é totalmente contra a lógica da economia neoliberal, onde você quer ter preços livres e ajustáveis. No caso das recentes iniciativas de investimento público nos Estados Unidos, penso que haja pessoas estudando cuidadosamente a prática chinesa, e, em seguida, tirando suas próprias lições, como os próprios chineses fizeram. Por outro lado, o rápido aumento do sucesso econômico da China ajudou a legitimar a política industrial, o investimento público e um papel mais ativista do Estado dentro dos EUA.
Quais especificidades do período que a senhora estudou permitiram ao governo se mobilizar durante a pandemia?
Passou-se muito tempo entre os anos 1980 e 2020. Mas um elemento-chave que veio junto com a não adoção da terapia de choque é que o Estado manteve um envolvimento bastante direto nos chamados patamares de comando da Economia, ele continua a ter um forte envolvimento nos principais setores econômicos. O Estado também continua na parte crucial do abastecimento de alimentos, e, em particular, de grãos, com políticas que são notavelmente semelhantes a algumas políticas tradicionais chinesas. Existem enormes reservas estatais e um sistema comercial estatal, que participam do mercado sempre que há fortes flutuações de alimentos básicos. Isso permitiu o tipo de enorme quarentena que o Estado chinês impôs nas primeiras semanas da pandemia, quando era importante ter um sistema de abastecimento de alimentos que permitisse às pessoas ficarem em casa.
Quais perigos a senhora entende haver nesse contexto de extrema rivalidade entre Estados Unidos e China?
Essa enorme tensão geopolítica é provavelmente o maior risco atual não só para a economia chinesa, mas para o mundo como um todo. Há enormes desafios que só podem ser enfrentados pelas maiores economias do mundo em colaboração, como percebemos na pandemia, e também é o caso da mudança do clima. Em vez disso, há uma competição cada vez mais acirrada, que parece ser suspensa para cooperação em raríssimos casos. Vejo esse como o maior desafio mesmo para a economia chinesa.
E quais outros desafios você identifica?
A reorientação da economia chinesa para um modelo mais voltado para a demanda doméstica, o que, é claro, assumiu uma nova urgência no contexto de tensões crescentes em torno da guerra comercial. Outro grande desafio é a contínua dependência tecnológica em áreas-chave, como semicondutores. Além disso, há, claro, todo o desafio de como reestruturar a economia para um modelo mais verde e mais sustentável. E isso tem implicações mundiais, pois, como sabemos, a China tem sido a oficina do mundo, e tem feito todos os negócios sujos para o resto do mundo.