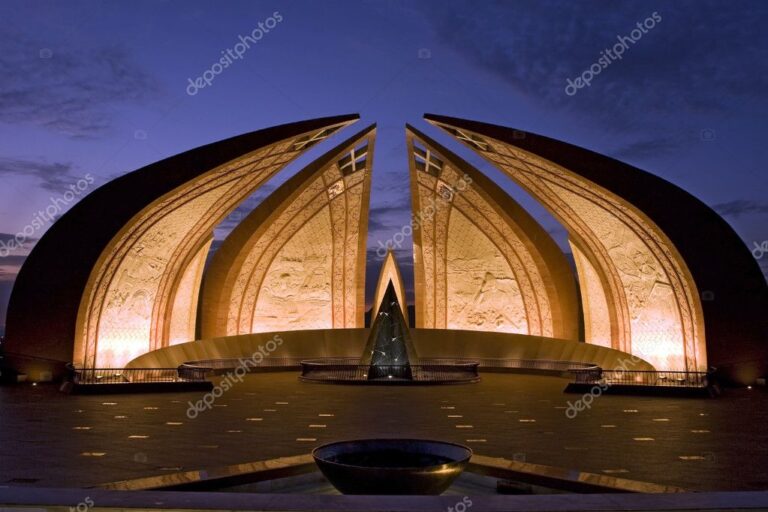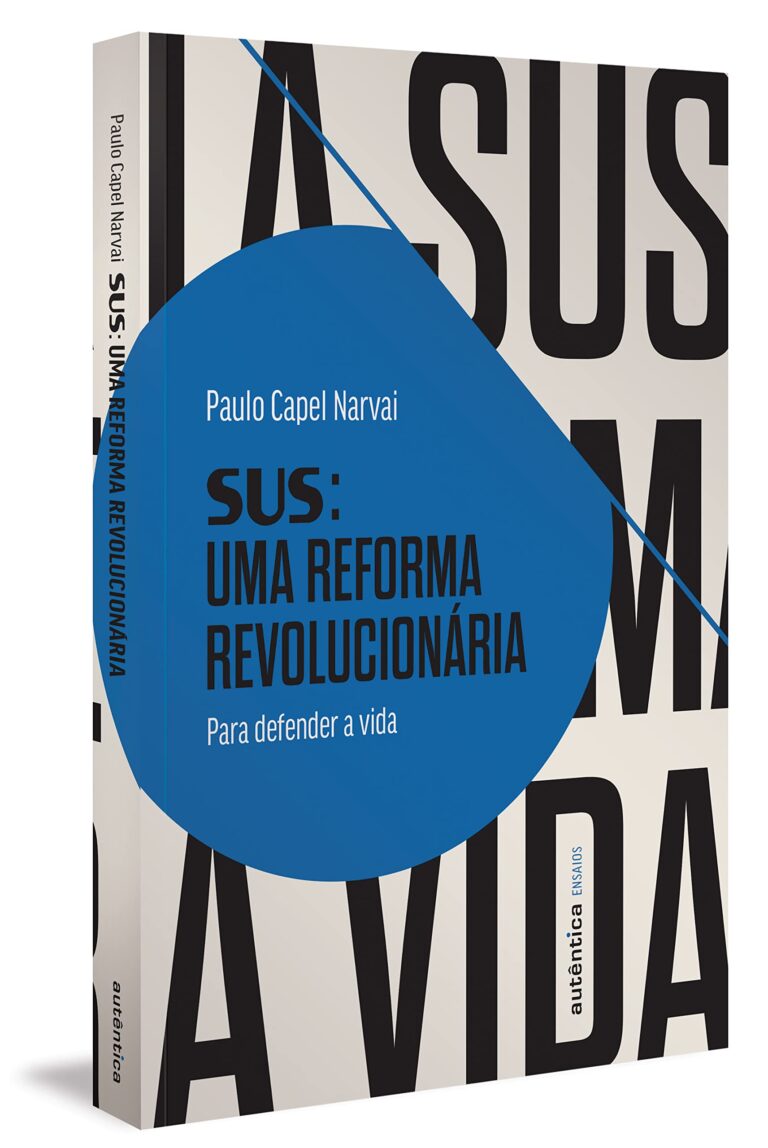Não é natural que políticas fracassadas não sejam revogadas
Marcos Mendes, Pesquisador associado do Insper, é autor de ‘Por que É Difícil Fazer Reformas Econômicas no Brasil?’
Folha de São Paulo, 21/05/2022.
Em teoria, políticas públicas devem tentar solucionar problemas que as relações contratuais e comerciais privadas não conseguem resolver. Por exemplo, empresas e famílias não têm incentivos para controlar toda a poluição que geram, pois isso lhes impõe custo. Daí a necessidade de políticas públicas ambientais.
Da mesma forma, não há meios privados eficientes de organizar a defesa nacional ou de vender um seguro contra risco de pandemia. Há, também, limitações aos esforços privados para reduzir pobreza e desigualdade.
Políticas públicas são desenhadas para preencher essas lacunas e melhorar o bem-estar de toda população.
Na prática, muitas políticas fracassam. É natural que isso ocorra. Afinal, todo empreendimento, público ou privado, envolve risco. Políticas inovadoras podem não sair como o planejado.
O que não é natural é que políticas fracassadas não sejam revogadas. Que não se aprenda com os erros e que políticas que deram errado no passado voltem a ser implementadas, fracassando novamente. Ou que, sabendo-se dos riscos de fracasso, sejam lançados programas a toque de caixa, sem avaliação prévia.
Infelizmente, muitas políticas públicas criadas no Brasil nas últimas décadas têm essas características nocivas. Para fazer um registro histórico de algum desses erros, organizei o livro “Para não esquecer: políticas públicas que empobrecem o Brasil”.
São tratados temas como o incentivo dado pelo Governo Federal para que estados e municípios se endividassem em excesso, o alto custo e baixa eficácia do programa Microempreendedor Individual (MEI), os privilégios previdenciários dos militares, as distorções do crédito subsidiado a grandes empresas, o nó criado pela intervenção no setor elétrico, a baixa eficácia da política educacional, a sobrevivência de empresas estatais que nada acrescentam, a proteção comercial excessiva.
São várias as causas de políticas públicas equivocadas, persistentes e empobrecedoras. O viés de curto prazo dos políticos, que querem deixar uma marca política em quatro anos de mandato, gera programas desenhados às pressas e despreocupação com os custos de longo prazo.
Muitas vezes as políticas são respostas a crises. Há demandas por soluções rápidas e simples para problemas complexos. Soluções emergenciais costumam ser caras e inconsistentes, agravando o problema no longo prazo. Por isso, devem ser temporárias. Mas muitas vezes se perpetuam. Desonerações tributárias criadas na crise de 2009, por exemplo, não foram revogadas até hoje.
O Congresso está prestes a revogar um aumento de preço da energia elétrica previsto em contrato. fragilizando a segurança jurídica e desestimulando incentivos a futuros investimentos no setor: preços contidos a força no curto prazo levam a preços ainda maiores no futuro.
Um sistema político fragmentado, como o brasileiro, acaba abrindo muito espaço para a influência de grupos de pressão, sem que haja filtros para barrar oportunismo. Não é à toa que se esteja tentando, no Congresso, aprovar a construção de gasodutos inúteis e a criação de adicional de tempo de serviço para a elite da magistratura.
Há, ainda, o fenômeno de se tentar corrigir um problema criando uma segunda distorção. Por exemplo, regras tributárias complexas estimulam a criação de regimes especiais simplificados, que acabam tornando a legislação ainda mais complexa.
Remar contra essa corrente e estabelecer políticas públicas bem fundamentadas não é trivial.
Cada um dos 25 capítulos do livro mostra um caso específico, diagnosticando erros e os relacionando às causas acima descritas. Nossa esperança é de que as evidências mostradas no livro diminuam as chances de que erros sejam repetidos.
Somos 33 autores, entre acadêmicos, técnicos de governo e profissionais da área privada. Todos com muitos anos de experiência e pesquisa sobre os temas tratados. O Insper e a Fundação Brava viabilizaram a realização do projeto, oferecendo gratuitamente o livro, que estará disponível nos aplicativos usuais de leitura a partir do dia 30 de maio.