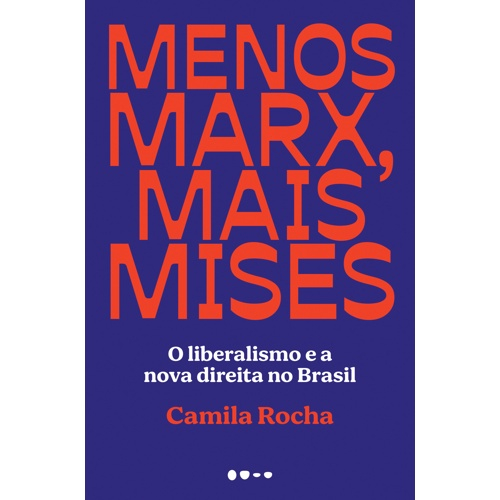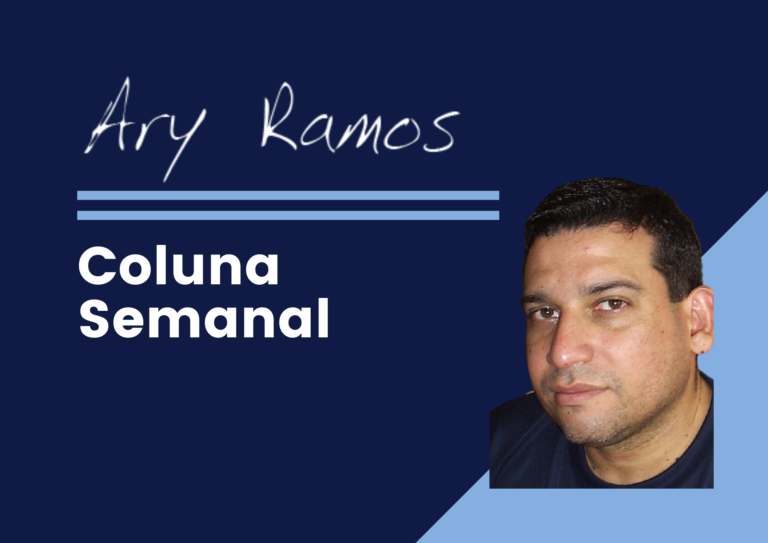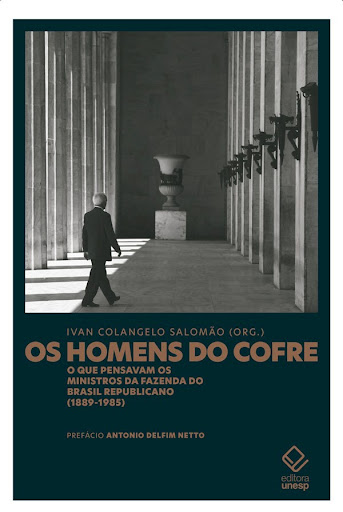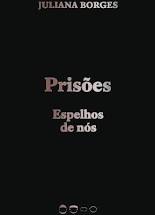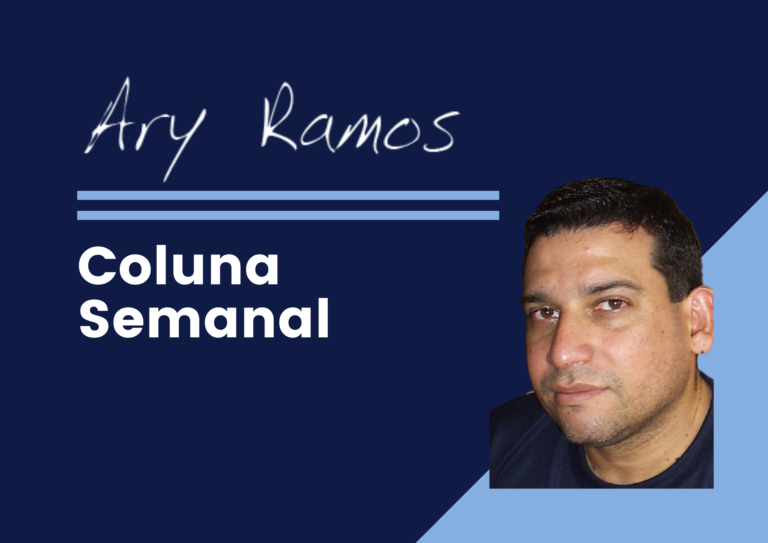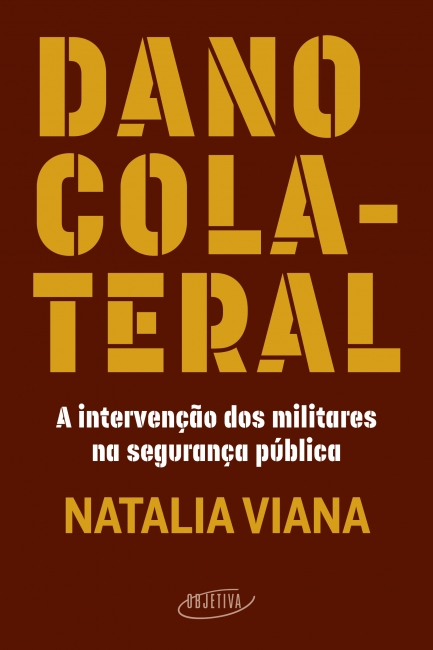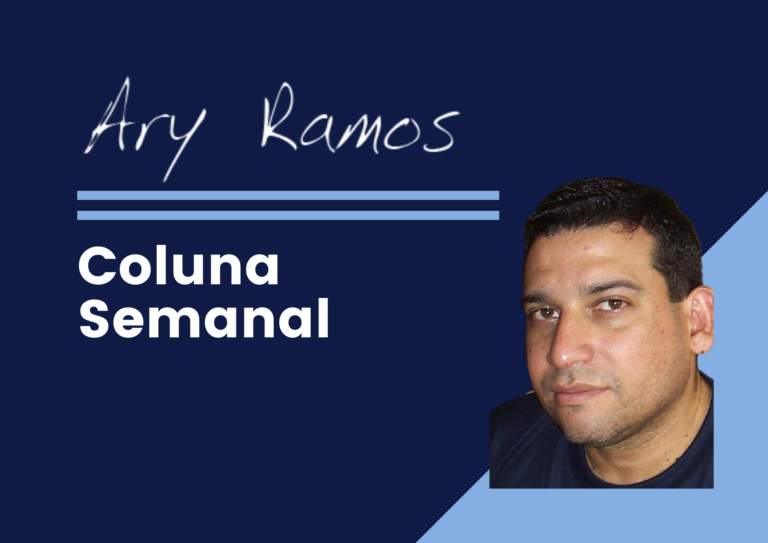Porque privatizações como a dos Correios e das refinarias da Petrobras não tem como dar certo.
A perda dos financiamentos baratos e da sinergia de estatais privatizadas levam a aumentos de custos, de tarifas e resultam em deterioração dos serviços, chama atenção economista
Revista Carta Capital – 20/08/2021.
Em especial as estatais lucrativas, como é o caso dos Correios, ao serem privatizadas deixam de ter o financiamento mais barato do mercado e no caso da venda das refinarias da Petrobras, sobressai a elevação dos custos impostas pela redução da sinergia da companhia, destaca o economista Pedro Paulo Zahluth Bastos, professor do Instituto de Economia da Unicamp, na entrevista abaixo:
CartaCapital: Privatizações como a dos Correios parecem dispensar critérios mínimos de racionalidade antes observados em desestatizações realizadas até mesmo no Brasil. O fato de os Correios serem lucrativos e eficientes como nenhuma organização privada conseguiria ser, com universalização do serviço prestado, parece não ter nenhuma importância, assim como não se dá atenção ao grave risco de desabastecimento de derivados de petróleo representado pela privatização das refinarias da Petrobras, conforme alertou até o próprio TCU. Como classificaria o processo em curso?
Pedro Paulo Zahluth Bastos: Um problema essencial das privatizações, que ficou claro no caso do Reino Unido, é que, em geral, as estatais que podem ser capitalizadas pelo Estado brasileiro, sobretudo quando são lucrativas, têm acesso a um custo de capital muito pequeno. Porque o Estado tem como capitalizá-las, por exemplo, lançando títulos públicos com o juro menor que existe no mercado. Portanto, quando uma empresa é privatizada, além de ela já ter sido amortizada, em geral ela é transferida para um grupo que tem um custo de endividamento muito maior do que o Estado. Então esse custo de endividamento vai implicar necessariamente uma elevação de receitas futuras das empresas, mesmo na suposição de uma mesma taxa de lucro, embora seja comum o grupo privatizador querer uma taxa de lucro maior. Então esse processo vai provocar um aumento do custo para os consumidores.
Outro aspecto é que os investidores privados não vão usar subsídios cruzados, que é a utilização das receitas obtidas com as partes lucrativas atendidas pelas empresas estatais para financiar serviços em áreas onde não há lucratividade, por serem muito distantes.
Com a privatização, o consumidor vai perder tanto por causa da elevação das tarifas quanto porque muitos dos serviços vão ser racionalizados. Em algumas localidades a correspondência ou encomenda não vai ser entregue ou isso será feito com espaçamento muito mais longo, de modo a reduzir os custos para as empresas.
CC: Como analisa a justificativa de que a privatização possibilita reduzir a dívida pública?
PPZB: O argumento de que isso vai abater a dívida pública é ridículo porque se o dinheiro entrar no caixa do governo, e se ele utilizá-lo para comprar títulos de dívida pública no mercado, os agentes que obtiverem esses recursos vão depositá-los no sistema bancário. Isso vai aumentar a liquidez do sistema bancário e jogará os juros para baixo. Para evitar que os juros caiam, o BC vai acabar emitindo títulos da dívida pública, nas chamadas operações compromissadas, consumando uma troca de dívida por dívida. É uma bobagem portanto também do ponto de vista financeiro, pois não produz nenhum tipo de redução da dívida pública.
CC: Qual o efeito no caixa do governo?
PPZB: Quanto ao aumento de recursos em caixa (conta única do Tesouro), não pode ser gasto por conta da Lei do Teto; a intenção declarada é comprar dívida, o que é absurdo por conta do aumento da liquidez. A liquidez e a riqueza que saem do mercado pela compra da estatal voltam pela recompra do título público, O excesso de liquidez é enxugado pelo BC e vira dívida compromissada de novo (ou empréstimo voluntário).
CC: Mas o que explica as atuais privatizações?
PPZB: Só se explicam por um objetivo de transferir recursos, bens, ativos e patrimônio públicos e capacidade de coordenação de políticas públicas por meio de empresas estatais, transferir tudo isso para os grandes investidores privados, financiadores que bancam politicamente a eleição de Jair Bolsonaro e que tem como representante ideológico o ministro da Economia Paulo Guedes.
CC: Qual outro caso exemplifica o problema das privatizações?
PPZB: O mesmo ocorre para as refinarias de petróleo, na verdade para o conjunto de empresas que tinham sinergia com a Petrobras. Além das oito refinarias que já se começou a vender, privatizaram 70 bilhões em ativos com muita sinergia. Ocorre que quando se perde sinergia em uma grande empresa, aumenta-se os custos. No caso das refinarias e outras estruturas, perde-se a sinergia da capacidade de distribuição que uma grande empresa tem. Então isso vai elevar os custos, ao invés de reduzi-los Além de que o custo de financiamento, que no caso de uma empresa como a Petrobras tende a ser muito menor que o de qualquer outra empresa que não tenha o mesmo porte nem o Estado brasileiro na retaguarda, se eleva. Na verdade, isso vai provocar uma elevação de custos que prejudicará os consumidores sem produzir nenhum impacto líquido sobre a dívida pública por causa do mecanismo que eu expliquei.
CC: A tendência é as privatizações continuarem?
PPZB: Se Bolsonaro se reeleger, provavelmente a Petrobras e os bancos públicos serão privatizados. Isso prejudica não só os consumidores pessoas físicas, mas as empresas privadas nacionais, sobretudo as menores, que dependem de crédito dos bancos públicos ou do Bndes e que contam com as encomendas das empresas estatais para eventualmente concorrer e crescer para competir no médio prazo em pé de igualdade com empresas estrangeiras. Esse movimento favorece muito, portanto, os grandes investidores privados e as empresas estrangeiras. É claro que ficam prejudicados ainda os fornecedores e os consumidores locais e também, evidentemente, os trabalhadores. Porque isso vem acompanhado de uma inflação dos derivados de petróleo, da energia elétrica, do gás e de outros preços administrados por conta da retirada de subsídios e da insistência de tratar as empresas, mesmo as estatais, como se fossem corporações privadas sujeitas a regras de maximização do valor das ações, sem nenhum controle dos preços e nenhum objetivo de mais longo prazo para a economia como um todo.
CC: Qual o risco de comprometimento de uma retomada do desenvolvimento em uma economia subtraída de estatais como Correios, Eletrobras, refinarias da Petrobras, BR Distribuidora, entre outras?
PPZB: Eu diria que o risco de comprometimento do desenvolvimento é a dificuldade de você coordenar investimentos que tem de ser feitos, muitas vezes, antes do investimento privado, não só para estimulá-lo como também para criar condições para que o investimento privado se realize na medida em que antes se disponha de infraestrutura ou insumos básicos para que ele não seja barrado por pontos de estrangulamento.
Isso é ainda mais grave por conta das necessidades de conversão energética. Essa conversão para uma transição verde conta em todos os principais países do mundo com grande importância dada à política pública, e o Brasil teria uma vantagem, contando com Eletrobras e Petrobras conjuntamente, para realizar essas políticas orientadas para a conversão verde. Acrescente-se que foi inteiramente desbaratado aquilo que a Petrobras pesquisava nessa direção, depois do golpe de 2016. Por exemplo, parques eólicos no oceano, diferentes formas de produção de hidrogênio, eventualmente até investimentos conjuntos das duas empresas em energia eólica ou solar. Tudo isso, que vai ser fundamental para a indústria e a matriz energética do futuro, e que precisa ser planejado pelo Estado, se coloca em risco diante da questão mais grave da história da humanidade, a possibilidade de extinção associada à mudança climática, por conta dos eventuais ganhos de curto prazo. Os recursos obtidos não são nem para abater da dívida pública, são basicamente para os financiadores do governo Bolsonaro.