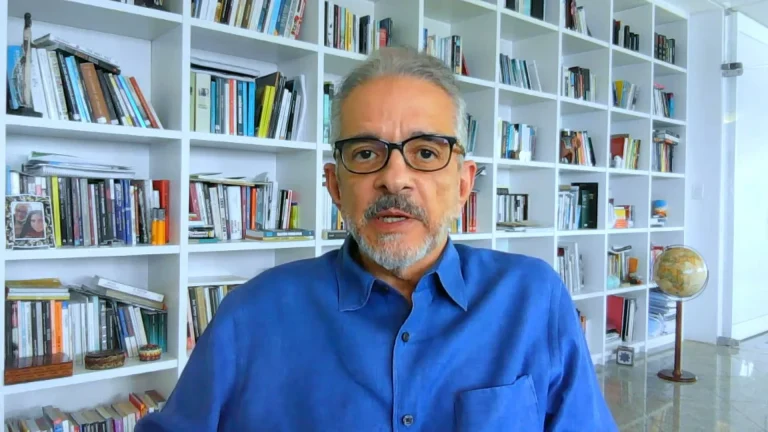Cientista social diz que Trump e Bolsonaro deixaram EUA e Brasil mais próximos de conflitos
Uirá Machado, Na Folha desde 2004, é formado em direito e em filosofia na USP, foi editor de Tendências / Debates, Opinião, Ilustríssima e Núcleo de Cidades, além de secretário-assistente de Redação.
Folha de São Paulo, 11/02/2023
[RESUMO] Em entrevista, a cientista política Barbara Walter debate o recuo da democracia e a expansão de guerras civis no mundo, aponta que a radicalização política é impulsionada pelo modelo de negócios de big techs e sustenta que a situação do Brasil e dos Estados Unidos, afligidos por ataques golpistas, é frágil. Republicanos e bolsonaristas, diz, estão a caminho de se tornarem facções, o que demanda força de instituições e de outros partidos políticos
Duas tendências identificadas nos últimos anos preocupam acadêmicos em diversas partes do mundo.
A primeira, já bem mapeada pela literatura recente da ciência política, é o declínio da democracia, com a ascensão de políticos autoritários que tomam o poder sem recorrer a um golpe de Estado tradicional.
A segunda ganhou notoriedade com a publicação, no ano passado, de “Como as Guerras Civis Começam e Como Impedi-las” (Zahar). Escrito pela cientista política Barbara F. Walter, da Universidade da Califórnia em San Diego, não demorou a se colocar entre os mais vendidos nos EUA.
O motivo é simples: Walter dá um novo passo na trilha aberta por obras que já se tornaram clássicos, a exemplo de “Como as Democracias Morrem” (Zahar, 2018), de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, e “Como a Democracia Chega ao Fim” (Todavia, 2018), de David Runciman.
Em seu livro, Walter mostra que as guerras civis costumam estourar não em democracias nem em ditaduras, mas em países que estão passando de um desses sistemas para o outro, e que esses conflitos se tornaram cada vez mais frequentes no século 21, a ponto de o pico histórico ter sido atingido em 2019.
O que explica essa tendência? “Não sabemos ao certo, mas temos uma suspeita forte: a ascensão das redes sociais”, afirma em entrevista à Folha.
Se ela diz, vale a pena prestar atenção, mesmo que se trate de uma suspeita. É que Walter acumula mais de 30 anos de estudos sobre guerras civis, incluindo a participação na Força-Tarefa sobre Instabilidade Política, criada pelo governo dos EUA nos anos 1990 para construir um modelo capaz de prever a erupção de conflitos em qualquer país.
Com base em sua experiência, Walter diz que Donal Trump, nos EUA, e Jair Bolsonaro (PL), no Brasil, aumentaram a chance de haver uma guerra civil nesses dois países.
A literatura recente sobre democracia tem apontado um novo padrão de golpe de Estado, e seu livro faz o mesmo em relação às guerras civis. Poderia explicar essas mudanças? São duas grandes tendências. Uma é a de declínio da democracia. As democracias vinham se expandindo pelo mundo a ponto de a gente pensar que todos os países adotariam esse sistema.
Isso mudou em 2010. Desde então, a cada ano há menos democracias e, pela primeira vez, isso tem afetado até as mais maduras e fortes, como Reino Unido, Estados Unidos, Suécia e Espanha.
No século 20, quando uma democracia desaparecia, geralmente era por meio de um golpe militar, mas essa não é mais a norma. Agora prevalece o que vou chamar de “modelo Viktor Orbán” [premiê da Hungria]. Ele tem sido o grande inovador nesse sentido.
Ele descobriu que não é necessário dar um golpe militar: você pode chegar ao poder por meio de uma eleição e, quando as pessoas não estiverem prestando atenção, você começa a desmontar os sistemas de controle sobre o Executivo; você faz isso lenta e metodicamente, de modo que, quando as pessoas perceberem que o poder está concentrado nas suas mãos, será tarde demais para reagir.
Trump observou esse método atentamente. Bolsonaro também. É quase como se Orbán tivesse mostrado a eles um manual de como fazer isso legalmente e sem envolvimento militar. Agora, esses aspirantes a ditador disputam eleições, controlam a mídia e moldam uma narrativa sobre si mesmos como líderes eficientes, fortes e necessários em um contexto de nacionalismo, medo e ameaças.
E com relação às guerras civis? Essa é a outra tendência: o aumento de guerras civis e da violência política. Do fim da Segunda Guerra Mundial até 1992, o número de guerras civis foi aumentando, com algumas oscilações. A partir de 1992, houve uma reversão desse padrão; pensamos que tínhamo s conseguido descobrir como resolver esses conflitos para viver em um período de paz.
A partir de 2002, porém, as guerras civis têm aumentado todos os anos em todo o mundo. Estamos agora em um nível mais alto que o de 1992.
Também vemos ao redor do mundo o aumento do nacionalismo étnico, o crescimento do número de partidos de extrema direita, de líderes do tipo lei e ordem. Vimos isso com [Rodrigo] Duterte nas Filipinas, com Bolsonaro no Brasil, com [Narendra] Modi na Índia, com [Recep Tayyip] Erdogan na Turquia, com Trump nos Estados Unidos.
Há também uma nova forma de violência política, que é descentralizada. As guerras civis de hoje envolvem mais grupos que no passado. Se você pensa na Síria, há centenas de facções de cada lado.
É uma mudança súbita: temos muito mais grupos, as guerras duram mais tempo e há mais intervenção externa.
O que explica isso? Não sabemos ao certo, mas temos uma suspeita forte: a ascensão das redes sociais. Elas permitem que forças antidemocráticas –seja Vladimir Putin, o governo chinês ou os Trumps do mundo— espalhem desinformação na internet, convencendo as pessoas a não confiar nas eleições e a não apoiar a democracia, argumentando que governos autocráticos são melhores. Essa maneira sub-reptícia de atacar a democracia não existia no passado.
As grandes empresas de tecnologia têm o mesmo modelo de negócios, que consiste em manter as pessoas tão ocupadas quanto possível com seus smartphones e computadores, e as informações que mantêm as pessoas conectadas por mais tempo são as que exploram o instinto de luta ou fuga, coisas que desencadeiam raiva, sensações de ameaça, de insegurança. O algoritmo oferece mensagens mais extremas.
Por exemplo, nos Estados Unidos, se você clicar em um link que mostra um policial salvando um filhote de gato em uma árvore, o algoritmo vai considerar que você é simpático à polícia. Começará então a te alimentar com mais informações a favor da polícia até que você esteja envolvido no debate a favor ou contra o Black Lives Matter.
Além disso, as redes sociais facilitam a mobilização de qualquer movimento. É uma mudança, porque antigamente era bastante difícil organizar uma milícia ou um grupo paramilitar. Isso tinha que ser feito com muito cuidado e de clandestinamente, e era difícil alcançar pessoas com as mesmas inclinações radicais.
A sra. afirma no livro que a maioria das pessoas não se dá conta de que uma guerra civil está a caminho até que a violência faça parte do cotidiano. Não existem sinais precoces? O governo dos Estados Unidos tem um manual chamado “Guia para a Insurgência”, que é usado pelos soldados americanos em outros países. O guia ensina o que procurar para saber se há uma insurgência ou não.
São três fases. A primeira etapa é a pré-insurgência, a segunda é insurgência incipiente, a terceira é insurgência aberta. Esse padrão se repetiu tantas vezes que é de fato possível identificá-los, mas, ao mesmo tempo, se você conhece os sinais, é perturbador ver populações ignorando os alertas.
Uma das coisas que acontecem, mesmo na primeira fase, é que, quando um grupo começa a se organizar, ele recruta membros, desenvolve uma ideologia, cria um conjunto de demandas.
Na segunda fase, o grupo adquire um braço militar e começa a realizar atos isolados de violência. Talvez esse seja o estágio em que os Estados Unidos e o Brasil estejam agora. Ocorrem ataques de terrorismo doméstico contra civis e líderes da oposição, talvez um candidato a presidente ou um juiz se torne alvo. Se houver elementos raciais, podem ocorrer massacres em bairros afro-americanos, igrejas, sinagogas.
Nessa fase incipiente, há uma tendência de rotular os ataques como isolados. Nos Estados Unidos, falamos em “lobo solitário”, como se fosse uma pessoa louca, sem conexão com um movimento maior.
O curioso é que o manual do governo americano fala especificamente sobre as pessoas não quererem acreditar que há um câncer crescendo na sociedade. É mais fácil descartar esses primeiros ataques e não ligar os pontos. Só quando esses ataques se tornam frequentes e já não se pode ignorá-los, as pessoas param para pensar se é algo maior. Mas, nesse momento, o movimento provavelmente já teve anos para crescer e se organizar.
A invasão do Capitólio nos EUA, e o ataque às sedes dos três Poderes, em Brasília, são eventos isolados ou indicam algo maior? Depende muito de como as coisas evoluem. Em ambos os casos, a ação foi contida. A invasão do Capitólio serviu de alerta para a sociedade e para o FBI. O FBI tem sido mais agressivo na identificação dos perpetradores e em levá-los a julgamento, e a pena de prisão deve enfraquecer o grupo de extrema direita por um tempo.
Porém, as coisas poderiam ter sido piores em ambos os casos. Por exemplo, os ataques poderiam ter sido bem-sucedidos nos EUA e Trump teria voltado ao poder. Além disso, eles poderiam ter se tornado mais violentos. A situação é frágil.
Sua pesquisa sugere que a transição, tanto da ditadura para a democracia como da democracia para a ditadura, é um fator relevante por trás da guerra civil. Por quê? Múltiplos estudos que analisaram fatores econômicos, políticos e geográficos perceberam que a transição era um dos dois mais importantes. Ou seja, se o governo do país é uma democracia parcial —nem totalmente autocrático nem totalmente democrático—, pode-se pensar em uma democracia fraca.
Se for uma autocracia que tenta se democratizar, o desmonte do aparelho repressivo cria uma oportunidade para que organizações ou pessoas se mobilizem para tentar capturar o governo. Foi o que vimos com o fim da Iugoslávia.
Mas também pode acontecer no sentido oposto, como vimos na Ucrânia. Quando o governo democrático entra em declínio, os cidadãos percebem que começa a se fechar uma janela para fazer suas reivindicações por meios não violentos. Isso cria um impulso para tentar evitar que se instale uma autocracia de fato.
Faz diferença a velocidade dessa mudança, seja para perto, seja para longe da democracia. Uma mudança rápida aumenta o risco. Não sabemos bem o motivo, mas suspeitamos que seja porque a mudança rápida indica um governo mais fraco, cercado de incertezas.
O outro fator que a sra. menciona no livro é a criação de facções. Como distinguir facções de grupos políticos? A faccionalização tem uma característica muito única. ela é racial, étnica ou religiosa. Nos Estados Unidos, os partidos estavam muito polarizados na década de 1960, mas um americano branco naquela época tinha tanta chance de ser democrata quanto republicano.
Isso não acontece mais hoje em dia. O Partido Republicano é quase 80% branco e, quase exclusivamente, cristão evangélico. Isso em um país multiétnico, multirracial e multirreligioso.
Ou seja, o partido fala apenas para um grupo racial e um grupo religioso. Essa é a diferença entre uma facção e uma simples polarização ideológica.
Além disso, quando Barack Obama foi eleito, a classe trabalhadora branca deixou de ser democrata para se tornar republicana. Se essas pessoas realmente se importassem com a ideologia, isso não faria sentido. O Partido Republicano quer desmontar a rede de segurança social e econômica que beneficia a classe trabalhadora.
A razão para a classe trabalhadora branca migrar para o Partido Republicano não tem a ver com ideologia; tem a ver com o fato de o Partido Republicano apelar ao nacionalismo étnico branco. Isso é uma facção.
Isso também se aplica ao Brasil? Pergunto porque os eleitores de Bolsonaro têm um certo perfil demográfico, mas o fator que mais parece agregá-los é o sentimento anti-PT. Eles são espertos.
Isso é apenas uma fachada para imigrantes, negros ou não brancos. Eu acho que há muitas semelhanças entre os Estados Unidos e o Brasil. Trump chegou ao poder, e seu partido se tornou cada vez mais nacionalista branco, pois demograficamente os brancos estão em declínio.
A parcela da população que tem formado milícias, que atacou o Capitólio e que nega eleições é formada de pessoas brancas que se sentem ameaçadas pelo fato de os brancos deixarem de ser maioria. Essas pessoas consideram um dever patriótico garantir que os cristãos brancos continuem no controle, mesmo que esse segmento se torne minoria, o que acontecerá por volta de 2045.
Isso já aconteceu no Brasil. Os brancos deixaram de ser maioria, e Bolsonaro entendeu o poder disso. Homens brancos ricos são os mais propensos a perder privilégios e poder.
Isso é uma facção? Ou está a caminho de se tornar uma facção. Quando um partido político passa esta mensagem: “Você é branco, deve votar em uma pessoa branca e, se eu for eleito, garantirei que as pessoas não brancas não tenham poder”, isso é muito diferente de “se você acredita no conservadorismo e deseja criar incentivos para as pessoas trabalharem duro, vote em mim porque essa é nossa visão de uma sociedade saudável”.
Em seu livro e nesta entrevista, a sra. cita Bolsonaro como exemplo de político que degradou a democracia e aumentou o risco de guerra civil. Poderia explicar melhor? Os estudos sobre guerra civil mostram que elas são mais prováveis em países com democracias parciais e com partidos baseados em uma identidade. O que Bolsonaro fez?
Ele quer enfraquecer a democracia do Brasil, apela cada vez mais para a raça. Ele não tem uma plataforma realmente baseada em ideologia. Ele está criando uma facção de brasileiros que cada vez mais acreditam que imigrantes são ruins, que brancos devem governar, que eles precisam tomar o país de volta.
Se ele tivesse sido reeleito, o risco aumentaria? Ele dobraria a aposta em sua estratégia, de modo que as duas condições para a guerra civil —democracia parcial e apelos à identidade— teriam continuado. Sabemos que, a cada ano que passa dentro dessas condições, o risco de guerra civil aumenta.
A derrota dele significa que não existe mais risco? Não. A situação não depende de uma pessoa específica, mas sim da força da democracia e dos tipos de partidos políticos existentes. Nos Estados Unidos, temos sorte de ter um presidente que acredita na democracia e não piora a situação, mas ele não conseguiu implementar reformas institucionais.
Que reformas precisam ser feitas? A coisa mais importante é regular as mídias sociais.
Como fazer isso sem ameaçar valores democráticos? Líderes de grandes empresas de tecnologia, como Mark Zuckerberg, se escondem atrás da primeira emenda da Constituição americana e dizem que regulamentar as mídias sociais representa um ataque à liberdade de expressão.
Isso é besteira. Todas as outras mídias são regulamentadas. Sabemos como fazê-lo.
Mas vamos aceitar o argumento. Vamos deixar as pessoas colocarem o que quiserem na internet. É só regular os algoritmos. É só não permitir que as empresas projetem algoritmos que divulguem as informações mais odiosas, assustadoras e negativas.
O que os algoritmos fazem é selecionar informações específicas e disseminá-las quase instantaneamente para milhões de pessoas. Isso não é um direito protegido pela Constituição. É aquela citação: “liberdade de expressão não é o mesmo que liberdade de alcance”.
BARBARA F. WALTER, 58
Professora de assuntos internacionais na Escola de Políticas e Estratégias Globais da Universidade da Califórnia em San Diego. Doutora pela Universidade de Chicago, com pós-doutorado pelas universidades Colúmbia e Harvard, é consultora dos departamentos de Defesa e Estado dos EUA e desenvolve pesquisas no campo da segurança internacional, com ênfase em extremismo, grupos rebeldes e guerras civis. Autora, entre outros livros, de “Como as Guerras Civis Começam e Como Impedi-las”.