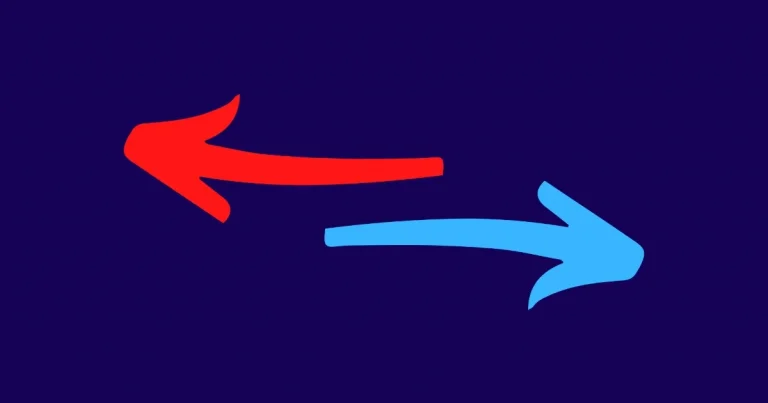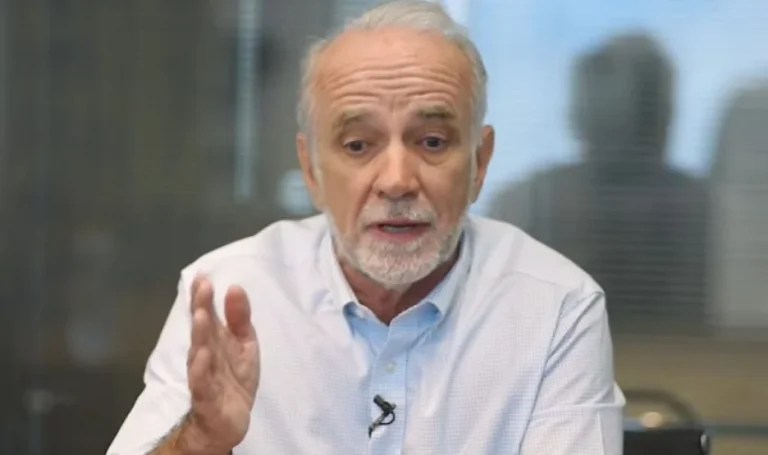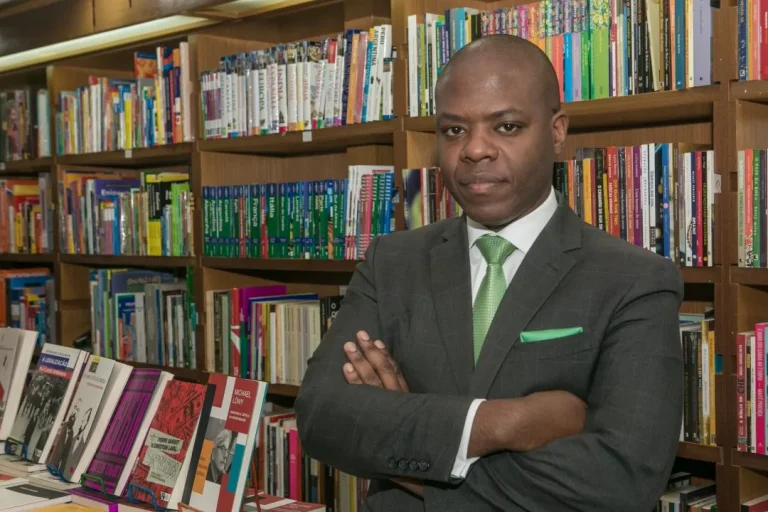Os indicadores sociais são muito negativos na sociedade brasileira, em pleno século XXI o Brasil está se reencontrando com a degradação das condições de vida da comunidade, vivemos num país que se caracterizou pela fortuna gerada pela agricultura tropical, dotada de grandes extensões de terras, solo altamente fértil e grande contingente populacional que poderia ser visto como grande mercado interno, mas, infelizmente, retornamos ao mapa da fome, da desesperança e da insegurança, degradando as condições sociais de vida e reduzindo os investimentos produtivos e intensificando a chegada de especuladores, sem compromisso com a nação e interessado em ganhos imediatos.
Pesquisas recentes divulgadas pelo IBGE nos mostram que mais de trinta e três milhões de brasileiros passaram fome na sociedade nacional em 2021, sem alimentos os indivíduos se perdem nos escaninhos da degradação, perdendo peso, destruindo a dignidade e gerando desequilíbrios generalizados nas condições sociais, levando a sociedade a conflitos sangrentos, abrindo caminho para soluções políticas mirabolantes que aumenta a instabilidade e a exclusão social.
Neste ambiente, as grandes economias do mundo já perceberam que, neste momento de intensas incertezas, faz-se necessário reconstruir a atuação do Estado Nacional, reconstruindo as políticas públicas e aumentando a proteção social, garantindo empregos decentes e reduzindo a degradação das condições dos trabalhadores, com isso, o mercado interno que sempre teve um papel estratégico no desenvolvimento das nações, melhorando as condições sociais e garantindo o crescimento da produtividade, levando os setores produtivos a incrementarem seus rendimentos, relembrando os ensinamentos de Barbosa Sobrinho de que o capital se faz em casa.
Os pressupostos liberais são encantadores e sedutores, a ideia de que a competição tende a fortalecer a estrutura produtiva e estimular a alocação dos investimentos internos, levando a economia ao desenvolvimento econômico é uma grande falácia e uma inverdade, todas as nações que angariaram o tão sonhado desenvolvimento econômico contaram com fortes investimentos estatais, planejamento estratégico sofisticado, incentivos produtivos e cobranças constantes, além de metas claras e a busca crescente por novos mercados externos, garantindo o incremento da produtividade do trabalho.
Numa sociedade como a brasileira, marcada pelo crescimento da fome, inflação em ascensão, desemprego nas alturas e degradação das condições de vida e o incremento da desesperança, precisamos de mais Estado, mais investimentos públicos e novos instrumentos de fortalecimento das estruturas produtivas, garantindo a construção de empresas nacionais fortes, mercado interno consolidado, investimentos em ciência e tecnologia e inovação constante.
A pandemia está nos mostrando a importância da empatia e da solidariedade como forma de construir uma sociedade mais digna, adotando políticas inclusivas, estimulando investimentos produtivos, retomando a esperança da civilização, enterrando as estruturas putrificadas que persistem na sociedade brasileira e que ganham ares de inovação e modernidade.
A fome que perpassa a sociedade brasileira, ou melhor, a fome que ainda persiste no Brasil, é um descalabro moral da alta magnitude no país e nos mostra, claramente, como os valores estão degradados, como os interesses individuais sobrepõem os interesses coletivos, neste cenário estamos nos acostumando com a violência e com a insegurança que crassa e aumenta no cotidiano, matando jovens de todas as classes sociais, postergando soluções estruturais, defendendo soluções frágeis e limitadas, enriquecendo poucos grupos sociais e aumentado o medo e a indignidade.
Neste ambiente, percebemos um governo confuso, sem credibilidade, sem ousadia, sem projeto nacional e suplicando para que os supermercados segurem os preços e jamais, pedindo para que os bancos reduzam seus altos spreads e ganhos financeiros, mesmo sabendo que a fome cresce diuturnamente.
Ary Ramos da Silva Júnior, bacharel em Ciências Econômicas e Administração, especialista em Economia Comportamental (Unyleya), mestre, doutor em Sociologia e professor universitário. Artigo publicado no jornal Diário da Região, Caderno Economia, 15/06/2022.