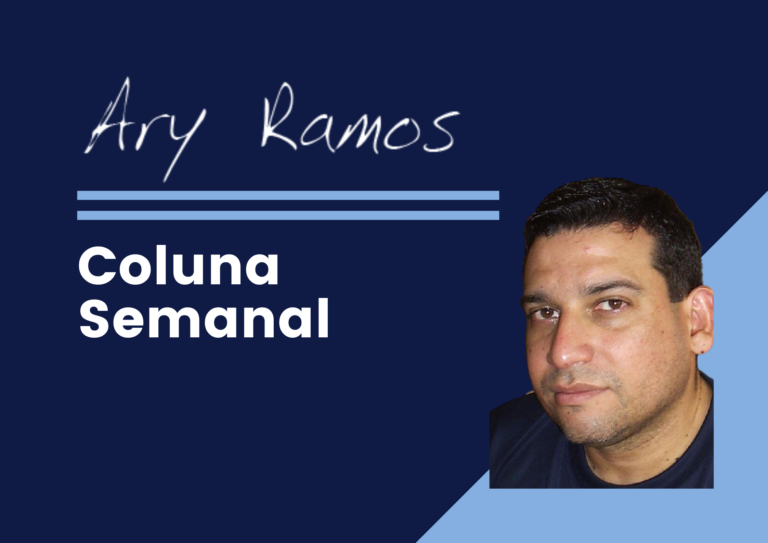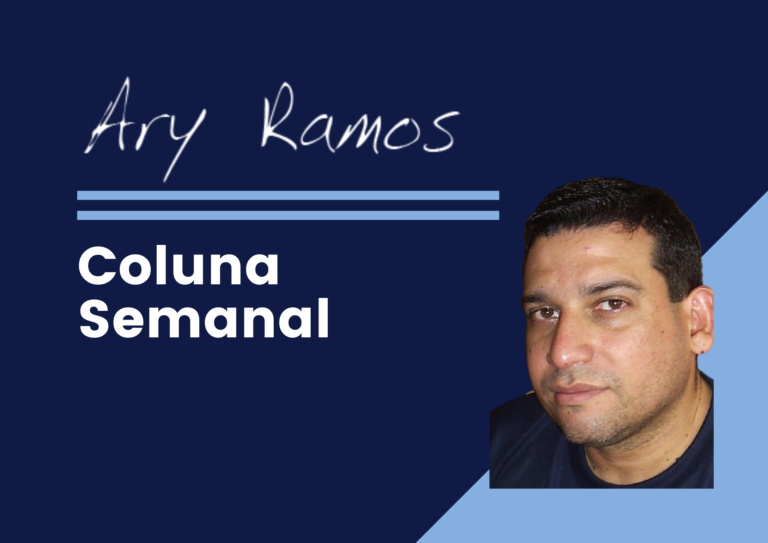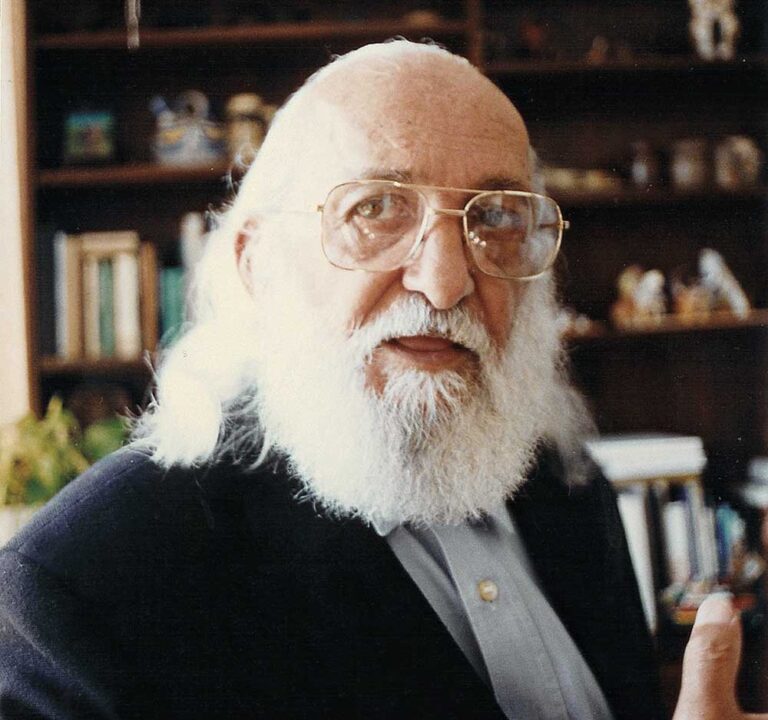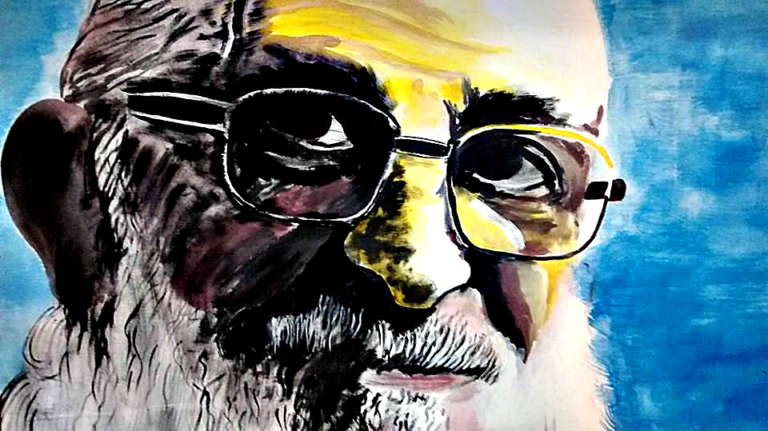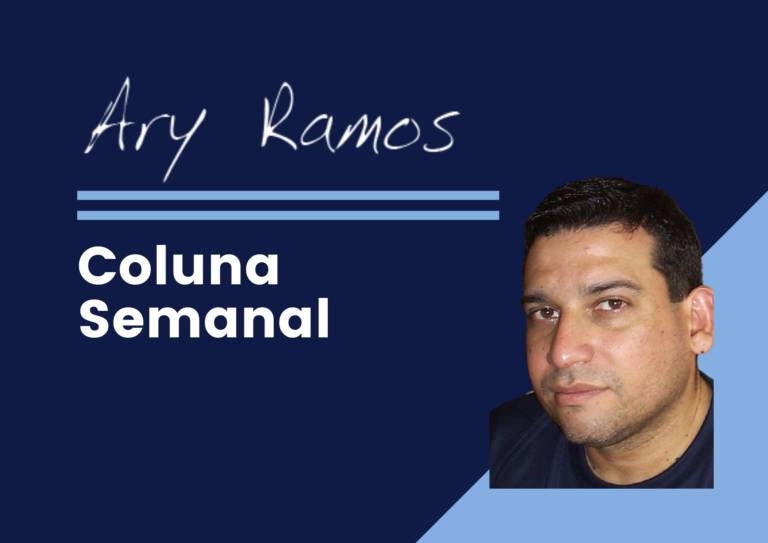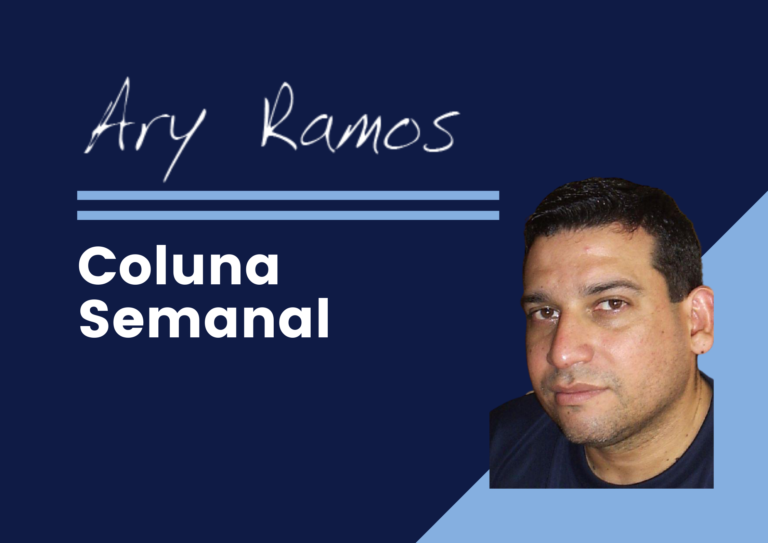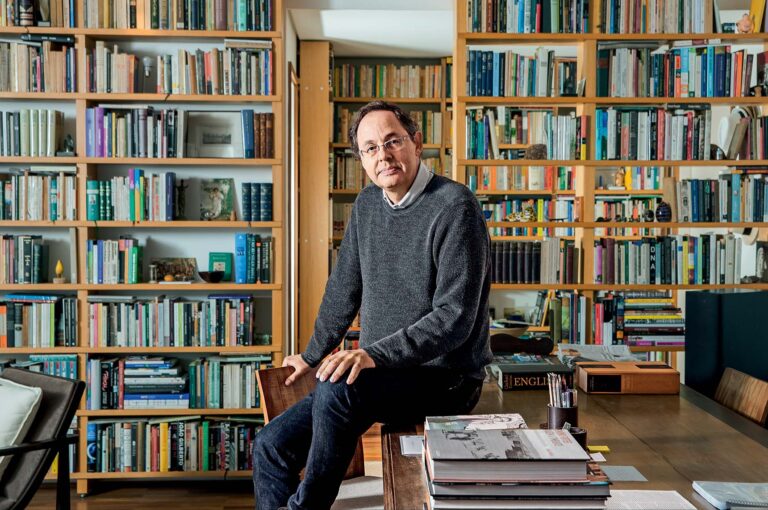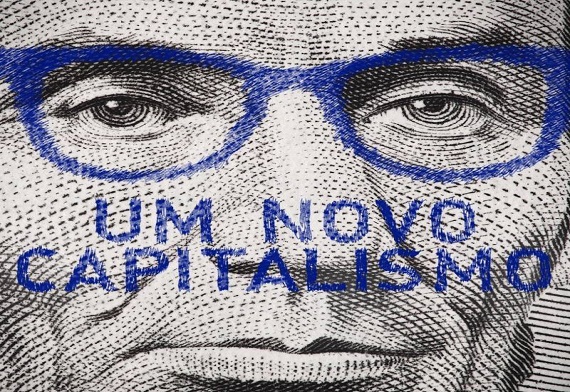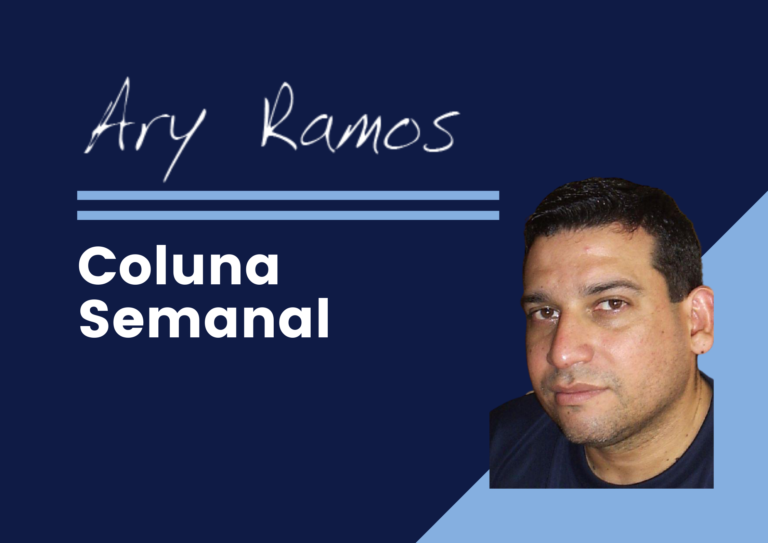Revista GAMA – Leonardo Neiva – 29/08/2021
Na cidade de Livermore, Califórnia, uma lâmpada vem iluminando a sede do corpo de bombeiros local há 120 anos. O fato é considerado tão impressionante, num mundo de lâmpadas que se queimam em menos de um ano de uso, que o lugar virou até ponto turístico. Num site dedicado ao curioso objeto, é possível inclusive acompanhar sua trajetória em tempo real — vai que você dá sorte, ou azar, de captar o momento histórico em que ele finalmente vai se apagar.
Mais interessado na regra que na exceção, no entanto, o jornalista, escritor e crítico social canadense Giles Slade publicou em 2006 o premiado livro “Made to Break” (feito para quebrar), um dos principais relatos contemporâneos sobre o fenômeno da obsolescência programada. Em linhas gerais, trata-se da estratégia usada por diversas indústrias — mas que é mais latente na área de tecnologia — de criar produtos com um prazo de validade planejado, como forma de garantir que o consumidor terá que retornar para comprar novamente.
Em sua obra, Giles, que é doutor em história cultural, explora desde as raízes bem americanas desse projeto de mercado, que nasceu em produtos como tampas de garrafa, aparelhos de barbear e carros da GM, até seu desenvolvimento ao longo do século 20, desembocando em questões diversas, como a produção de lixo eletrônica em massa e o esfriamento das relações humanas.
Seu interesse pelo tema despertou depois de passar um período lecionando cultura americana em universidades da Ásia e Oriente Médio, tendo voltado para o Canadá após os eventos que se seguiram ao 11 de Setembro. “Você entra numa loja e te empurram todo tipo de coisa. Numa locadora, tentavam te vender uma carteirinha de sócio ou alugar dez filmes em vez de um só.”
Numa sociedade feita para o consumo rápido e imediato, em que durabilidade não é do interesse de ninguém, não espanta a curiosidade despertada por uma simples lâmpada incandescente. Além do fascínio pelo objeto em si, ela demonstra que outros produtos também poderiam ser feitos para durar uma vida inteira. “Na União Soviética, o problema não era produção nem consumo, porque todo mundo queria o que a indústria estatal produzisse. […] Se você tiver um refrigerador soviético, ele vai durar para sempre”, aponta o jornalista.
Em entrevista a Gama, Giles fala sobre como empresas como a Apple têm usado a estratégia para ampliar seus negócios e seus lucros. Também aborda o direito de consertar um produto, algo que vem sendo tirado dos consumidores, além da crescente produção de lixo no mundo e o distanciamento causado pela tecnologia.
Por que as empresas não criam coisas que durem? Isso quebraria nossa economia, como parece ser o pensamento corrente?
Vivemos um modelo de capitalismo baseado no consumo repetitivo. Movemos as engrenagens da indústria ao continuamente produzirmos coisas novas. Os fabricantes enxergam isso como uma forma de ficar muito ricos, fazendo crescer seu poder, influência e seus recursos econômicos e fiscais. Obviamente, é muito fácil criar uma máquina que perdure. O Mars Rover [veículo explorador de Marte], por exemplo, foi pensado para durar três anos. Mas, como não sabiam quais seriam as condições da superfície de Marte, estenderam esse período de forma tremenda. Ele já existe há 20 anos e continua andando. Na União Soviética, o problema não era produção nem consumo, porque todo mundo queria o que a indústria estatal produzisse. Eles não tinham como ampliar suas fábricas para competir com o capitalismo. Se você tiver um refrigerador soviético, ele vai durar para sempre. No Ocidente, a marca registrada de um produto de luxo é que ele dura muito tempo. Coisas como relógios Rolex e carros da Mercedes. Também supostamente a Apple, mas, apesar de você pagar mais pelos produtos, a marca, de forma muito inteligente, vai lá e limita seu aparelho para que seja forçado a comprar um novo. É uma política deliberada e está presente em todos os aspectos da Apple. É como um vício. Eles não vão te dizer como parar de comprar, não faria sentido. E é exatamente assim que a indústria funciona, especialmente a de tecnologia.
No seu livro “Made to Break”, você explora a evolução da obsolescência programada ao longo do século 20. Quando diria que ela começou a ser aplicada pela indústria?
É uma estratégia econômica que ganhou importância na virada do século 19 para o 20, com produtos como tampas de garrafas de Coca-Cola e aparelhos de barbear descartáveis. A ideia era criar produtos que precisassem ser eternamente substituídos. Essa mudança foi possível porque aconteceu uma revolução no tipo de materiais que eram usados. De repente, papel, estanho e aço se tornaram muito mais baratos, porque ficaram mais fáceis de processar.
Acabei de voltar de Cuba, que nos oferece uma perspectiva bem interessante do problema, porque o embargo americano bloqueou o país para a maioria dos mercados do mundo. Não existem novos materiais, carros ou celulares. As pessoas precisam se virar com o que já têm. Os cubanos são muito resilientes e inteligentes ao reciclar tudo, incluindo sua maldita revolução. Voltei para o Canadá um mês atrás e me senti sobrecarregado com todas as opções de consumo. O mercado tem tantos celulares que não sou mais capaz de diferenciar um do outro. A Apple está usando sua posição de poder, influência e monopólio para criar novas formas de lucrar. Então, se o aparelho que você compra custa US$ 1,2 mil dólares, eles ganham US$ 500 em cima disso. Antigamente, você comprava um produto e era seu, podia fazer o que quisesse com ele. Hoje, as marcas enxergam como uma oportunidade de controlar a receita em um pós-mercado. Por isso, o direito de consertar é uma questão tão vital para eles, e é por isso que gastam tanto dinheiro tentando derrubá-la no mundo inteiro.
Que impacto essa estratégia de mercado vem causando no mundo?
Esse impacto acontece em muitas frentes. Nosso fascínio por tecnologia pessoal tem raízes no período em que as pessoas deixaram a Europa e outras partes do planeta e vieram para o Novo Mundo. Cartas, cartões-postais, telefones, gravações, fotografias são coisas que foram permitindo que as pessoas mantivessem contato com seus parentes e entes queridos que moram longe. Só que acabamos desenvolvendo um fascínio e uma dependência desses objetos, a ponto de usá-los como substitutos para interações humanas reais. Como descobrimos neste último ano, com a covid-19, são substitutos vazios. Não liberam no cérebro os mesmos feromônios que a comunicação cara a cara.
Acredito que isso tenha nos tornado mais solitários. Ainda que sejamos consumidores que deveriam ser temidos por grandes corporações, elas podem formar monopólios e influenciar até a legislação que precisamos obedecer. Isso desgastou nossa liberdade e também nossas interações sociais. Hoje, as pessoas preferem mandar um texto ou ligar, porque encontros físicos são vistos como mais frágeis e perigosos do que eram no passado. A pandemia fez as pessoas entenderem que nenhuma soma de dinheiro significa conforto, o que elas precisam é de gente ao redor delas. Então essa é também uma grande oportunidade.
Quais estratégias as empresas usam para impedir que os consumidores consertem seus aparelhos?
O próprio sistema operacional impede interferências. Por isso, uma das principais reivindicações do movimento pelo direito de consertar é o acesso aos manuais e códigos do sistema, assim como aos componentes. A empresa pode argumentar que qualquer provedor de serviço independente é capaz de consertar seu telefone. Mas, infelizmente, só um técnico treinado pela Apple pode realmente efetuar o reparo necessário. Eles obstruem esse movimento porque querem toda a receita pelo conserto de seus aparelhos que, após um certo ponto, são programados para funcionar de forma piorada. Em 2017, houve um processo nos EUA contra a Apple por seu novo sistema iOS. O iPhone 6 deliberadamente ficava mais devagar para encorajar as pessoas a comprarem novos produtos. Essa estratégia obscura acontece em toda a indústria.
Você acredita que o movimento pelo direito de consertar deve mudar esse cenário?
Já está acontecendo. No Brasil, a Apple foi processada porque o novo sistema operacional do iPad 4 torna o anterior obsoleto. No ano anterior, fizeram uma campanha de marketing tremenda para vender todos os iPad 3. Só que, é claro, eles não funcionavam tão bem porque o sistema operacional era para o iPad 4. É algo brilhantemente cínico.
Por que esse problema fica tão evidente no caso da Apple? E como isso nos afeta?
Para começar, não acho que haja nada inerentemente superior em relação a um iPhone hoje. Aparelhos Samsung são tão bons quanto eles. A Samsung aplica o mesmo tipo de política que a Apple, também não querem que você entre nos dispositivos deles. Apesar disso, mais pessoas consertam Samsungs de forma independente do que iPhones. A Apple desenvolveu um parafuso que você não consegue abrir com uma chave de fenda comum. Precisa comprar uma ferramenta especial só para abrir o dispositivo. Programas de fidelidade, obsolescência programada de moda e tecnologia, todas essas coisas incentivam o consumidor a não manter seus produtos, mas sim comprar novos. E nossos relacionamentos interpessoais têm refletido essa relação com as coisas. As próprias pessoas se tornaram mais descartáveis por causa disso. Se um amigo te causa problemas demais, você larga ele ou deixa de responder e arranja outro. Não é algo que acontecia no passado. Nós mudamos, nos tornamos muito mais temporais e temporários.
A sociedade sempre esteve ciente da existência da obsolescência programada? Ou isso é algo recente?
Durante a Grande Depressão, quando as pessoas tinham muito menos dinheiro para gastar, a prática chegou a ser investigada. Mas nos anos 1930, 1940 e 1950, empresas como a General Motors vendiam isso como uma coisa incrível, porque você tinha um produto melhorado todo ano. Um importante livro americano sobre o assunto foi publicado na década de 1960, e as pessoas ficaram ultrajadas. É algo que sempre aconteceu, a mesma coisa que colocar água no vinho. São todas formas de enganar o consumidor. Pode parecer moralista, mas é uma questão moral: que responsabilidade o fabricante tem com você? E que responsabilidade você tem com a marca, uma vez que já pagou pelo produto? Se eu paguei por algo, aquilo é meu, posso fazer o que quiser com ele. A Apple, a Samsung, a Microsoft e várias empresas não pensam da mesma forma. Elas querem mudar o princípio fundamental da propriedade. É a isso que temos que resistir. Porque, assim como a propriedade, o direito à privacidade também pode virar uma questão.
Como sua preocupação com esse problema começou?
Eu estava dando aulas na Arábia Saudita e, quando voltei para a cultura de consumismo do Canadá nos anos 1990, isso realmente me atingiu. Você entra numa loja e te empurram todo tipo de coisa. Numa locadora, tentavam te vender uma carteirinha de sócio ou alugar dez filmes em vez de um só. No restaurante: você quer fazer disso uma refeição completa? Batatas para acompanhar? Algo para beber? E não era só porque estavam tentando ampliar o lucro, mas também porque não eram interações sociais de verdade, mas uma troca econômica. Isso realmente me irritou, porque na Arábia, assim como em países latinos, quando você compra algo, existe uma interação social muito mais calorosa.
Você pode realmente desenvolver uma relação com o vendedor. Isso não acontece na América do Norte, onde você não passa de uma engrenagem no motor. Foi aí que comecei a pensar que nossa atitude sobre coisas materiais afeta nossas relações interpessoais. A perda dessas preocupações sociais nos deixou com uma cultura vazia, materialista, na qual substituímos a felicidade genuína por objetos. Isso também tem a ver com os vícios e outros problemas psicológicos, com nossa profunda insatisfação e a violência social.
A questão da produção de lixo, que tem a ver com a obsolescência programada e se tornou ainda mais urgente na pandemia, deve entrar no foco das atenções?
Com certeza. Nós nos fixamos na imagem histórica da imunização individual porque não tínhamos sido atingidos por uma pandemia. São sete bilhões de pessoas no mundo, que precisam receber duas ou três doses de vacina em seringas descartáveis. Uma quantidade infernal de plástico. Isso sem contar todo o aparato cirúrgico que vai parar no oceano. Nós tínhamos a capacidade de fazer a imunização de forma intramuscular com um aplicador por gás. Existem muitos preconceitos históricos como esse, que causaram enormes desperdícios. Se formos pensar em componentes, por que não temos um smartphone que se desconstrói inteiro e é fácil de consertar? Tiveram essa ideia alguns anos atrás, mas o aparelho foi rapidamente comprado por outra empresa e simplesmente sumiu.
É possível lutar de alguma forma contra essa realidade, já que ela está tão integrada ao mercado e à sociedade?
O problema são essas poderosas corporações multinacionais como a Apple, que tem um lucro anual de US$ 300 bilhões, quase um terço do PIB do Brasil. Então imagine grandes empresas como a Apple, a Microsoft ou o Facebook. Por mais que um governo queira enfrentá-las, elas têm muito dinheiro e poder, além de influência política. É provável que, mesmo que percam ações em alguns casos, continuem fazendo o que fazem hoje, porque são tão poderosas que é muito difícil quebrar seu modelo de negócio atual.
Meu pai tinha uma tendência maior de querer consertar aparelhos digitais do que eu ou minha irmã. Para muita gente, se algo quebra, é hora de trocar. Como é possível mudar essa forma de pensar em toda uma sociedade que cresceu com ela?
O nível de satisfação que as pessoas recebem com uma nova compra tecnológica decaiu substancialmente. O remorso por consumir também tem batido mais forte e mais rapidamente. É vendido para nós que uma camisa branca, óculos de sol, um carro zero vão nos tornar pessoas melhores ou nos ajudar a conquistar uma mulher ou um homem. Existe toda aquela mitologia, mas, no final, não conseguimos nos satisfazer. Se pretendemos continuar sendo humanos, precisamos alterar radicalmente nosso sistema de valores. Senão, empresas como o Facebook vão intensificar essa estratégia, nos induzindo a comprar coisas sem que saibamos. A visão que a indústria tem sobre a humanidade é muito superficial, como se fôssemos um rebanho de ovelhas que precisa ser tosado periodicamente, mas não muito bem alimentado ou cuidado. O modelo de capitalismo que desenvolvemos é essencialmente desumano. Ele está nos destruindo, por causa de todo o lixo que despejamos sobre o planeta, mas também por razões espirituais difíceis de quantificar.
Nesse caso, o que dizer sobre esses cultos que rodeiam marcas como a Apple, com filas enormes na frente das lojas a cada novo lançamento?
Nós nos dissolvemos em tecnologia de forma injustificável. Olhamos para novas tecnologias como uma forma de salvar o futuro de problemas que a própria tecnologia criou. Pensamos que seremos capazes de limpar a atmosfera, produzir menos carbono ou retirar plástico do oceano, porque os investimentos aumentam a cada ano. Só que isso simplesmente não é verdade. Essa realidade está nos danificando e nos mudando. Nossa confiança nela é uma evidência profunda da nossa incapacidade de confiarmos uns nos outros. Preocupações fundamentalmente humanas foram despedaçadas. É uma sociedade muito ampla, com pessoas demais, e não é possível responder por todo mundo, mas também não somos encorajados a fazê-lo. Nosso capital social está sendo destruído.
Que futuro você gostaria e acha que é possível deixar para nossos filhos e netos?
Esse ethos de fazer avançar a indústria capitalista e a máquina de consumo hoje está causando incêndios, inundações, o aumento do nível do mar e o aquecimento global. Isso é resultado do desperdício e da falta de qualquer tipo de responsabilidade pelo lugar onde vivemos. Não vivemos na natureza, vivemos da natureza. Para isso mudar, teria de haver uma revolução de valores. Essa revolução só vai acontecer se houver um colapso social horrível. Essa possibilidade não me parece fora da realidade, especialmente depois desses últimos 16 meses. Algo semelhante à queda do Império Romano é possível, e pode acontecer mais rápido do que a gente imagina. Não quero falar sobre política, mas é só pensar no líder do seu país, que ignora todas as instituições e invariavelmente toma o caminho errado. Isso tem acontecido cada vez mais no mundo. Não estamos mais conectados uns aos outros porque não estamos conectados a nada. Nossa responsabilidade com o próximo é mínima neste momento.
É possível que, nesse caminho que tomamos, não haja mais volta?
Pessoalmente, acho que pode ser tarde demais. Mas parte do foco — além do movimento pelo direito de consertar, que é muito importante — deveria estar em limitar o poder desses monopólios globais, que nos forçam a ser locatários de seus produtos apesar de termos pagado por eles.
Procurada por Gama para comentar a entrevista, a Apple não respondeu até o fechamento da edição.