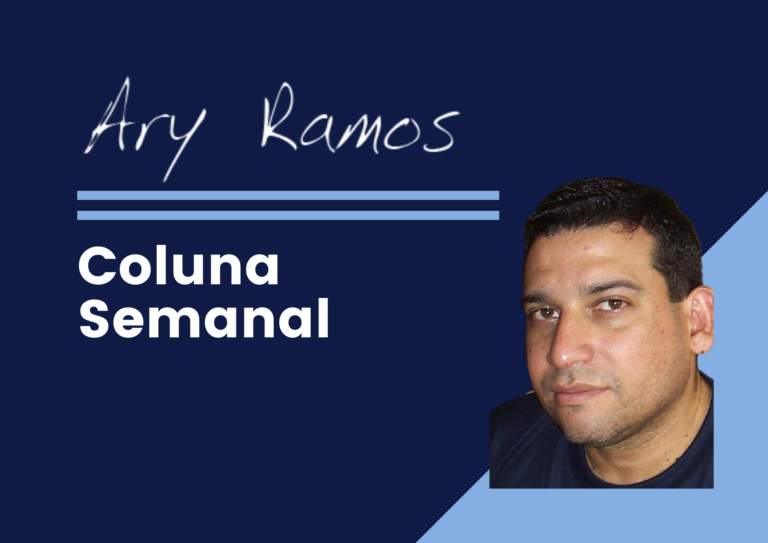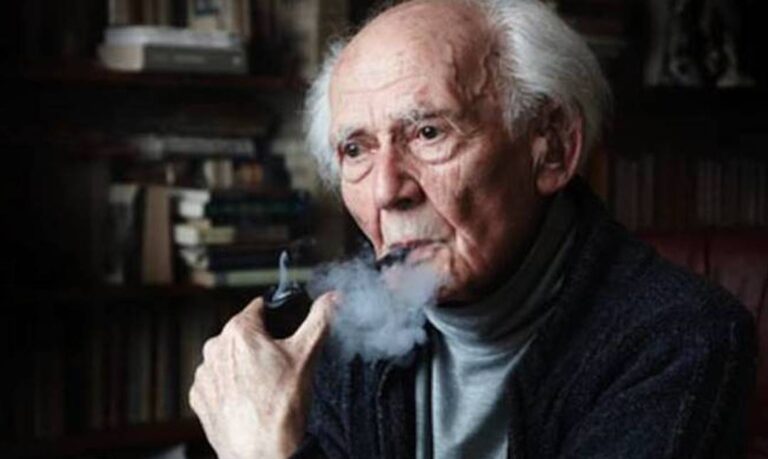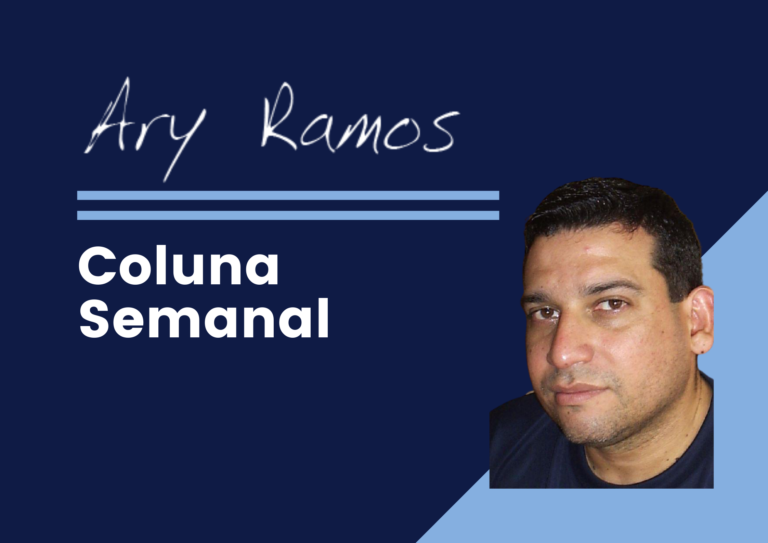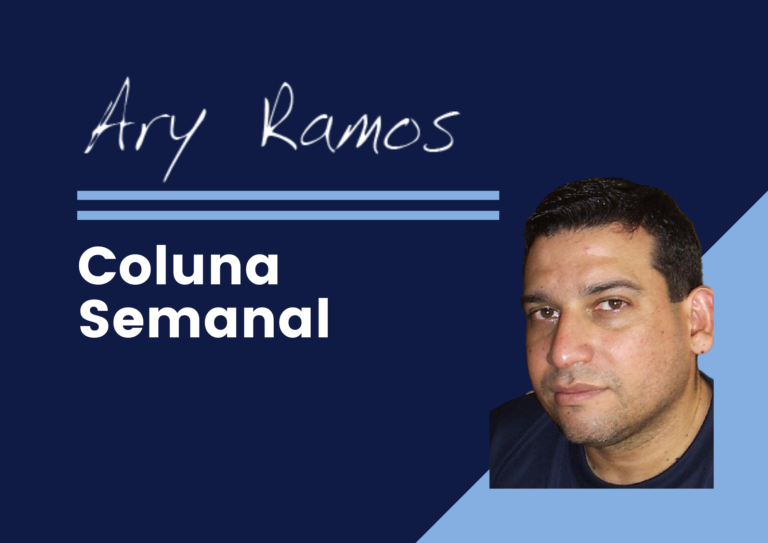Apesar de insatisfação crescente, as bases da velha lógica capitalista continuam a se impor, avalia Wolfgang Streeck
Hugo Fanton, Professor colaborador do Departamento de Ciência Política da USP e pesquisador associado do Centro de Estudos dos Direitos da Cidadania (Cenedic)
Folha de São Paulo, 25/07/2021
[resumo] Em entrevista, o renomado sociólogo alemão Wolfgang Streeck se contrapõe ao otimismo de setores da esquerda e afirma que os planos de estímulo econômico na União Europeia e de Joe Biden nos EUA, longe de representarem uma ruptura da ordem neoliberal, reproduzem as bases da velha lógica capitalista, que segue como padrão dominante apesar da crescente insatisfação em todo o mundo.
As crises combinadas e crônicas do capitalismo e das democracias ocidentais nas últimas décadas são os temas centrais do trabalho recente do sociólogo Wolfgang Streeck, diretor emérito do Instituto Max Planck para o Estudo de Sociedades de Colônia, na Alemanha.
Nesta entrevista, ele analisa o momento político da União Europeia e dos Estados Unidos sob o governo democrata de Joe Biden e revela descrença em relação ao otimismo corrente, mesmo em setores da esquerda, de que uma nova fase capitalista possa emergir.
Em seu entendimento, não há razão para acreditar que os estímulos anunciados até aqui por Biden ou pela União Europeia representem qualquer ruptura com a lógica neoliberal que rege as economias centrais há décadas e traz como consequência direta o aumento das desigualdades.
Mesmo diante da emergência de diferentes formas de insatisfação com o modelo atual, a ausência de partidos de massa que congreguem os descontentamentos em um denominador comum transformador, de sentido democratizante, possibilita ao capitalismo continuar a se impor como padrão predominante de integração social, avalia.
Apesar disso, os sinais da crise seguem presentes e no centro de sua análise sobre as dificuldades vividas no Ocidente.
Na entrevista a seguir, realizada por email no início de julho, Streeck apresenta ainda conceitos formulados em suas obras “Tempo Comprado” e “How Will Capitalism End” para expor as atuais expressões do neoliberalismo.
O sociólogo aborda ainda as consequências da Covid-19 nas políticas macroeconômicas e faz projeções para as eleições nacionais que acontecem na Alemanha em setembro.
A versão completa da entrevista será publicada na edição de agosto da Revista Rosa, uma publicação acadêmica de conteúdo aberto disponível na internet.
Análises recentes de ações governamentais no contexto da pandemia apontam para possibilidades de mudança na orientação da política macroeconômica, uma nova lógica a reger o centro do capitalismo, anunciando, inclusive, o fim do neoliberalismo em uma perspectiva progressista. Qual é a sua avaliação das medidas de estímulo à retomada econômica, sejam elas nos EUA ou na União Europeia? Podemos entrar em uma nova fase que dê sobrevida ao “capitalismo democrático”? Antes de mais nada, a transição para uma “nova era” leva tempo. Biden está no governo há menos de meio ano, e em breve começará o período que antecede as eleições de meio de mandato, de novembro de 2022.
Lembro-me muito bem do momento imediatamente após a eleição de Bill Clinton, em 1992, quando o céu estava cheio de sonhos de reformas fundamentais, como a social, a educacional e a do mercado de trabalho. Isso terminou dois anos depois, quando ambas as casas do Congresso se tornaram republicanas, com Newt Gingrich assumido o poder na Câmara dos Deputados e Clinton mudando de rumo em 180 graus, iniciando a revolução neoliberal. Vamos ver se Biden vai se sair melhor.
Em segundo lugar, depende do que você quer dizer com “uma nova lógica do capitalismo” e do que chamamos de “sobrevivência do ‘capitalismo democrático’”. O capitalismo tem evoluído permanentemente desde seu início, assumindo constantemente novas formas: novas tecnologias, nova organização do trabalho, novos regimes financeiros, mudanças nas relações com o Estado e a democracia etc.
O que não mudou foi sua natureza fundamental: uma economia política guiada por uma compulsão intrínseca pela acumulação sem fim de capital privado capaz de gerar mais capital privado. Não há razão para acreditar que o estímulo econômico fiscal, independentemente do seu tamanho, representaria uma ruptura com essa lógica.
Certamente, uma questão interessante é como os enormes déficits públicos necessários para estimular a decadente máquina de lucro americana são financiados e por quanto tempo isso pode continuar sem causar mais danos que benefícios, especialmente para aqueles que não são proprietários de capital.
Parece-me que o pacote Biden será financiado por uma mistura complexa de política fiscal e monetária, ou seja, por uma enorme extensão da dívida pública americana combinada com uma promessa do Fed de manter as taxas de juros baixas para que a dívida possa ser paga, além da garantia aos investidores em dívida pública de que, se a pressão chegar, o Fed comprará sua dívida com dinheiro novo, o que no jargão tecnocrático do dia é chamado de “estabilização dos mercados financeiros”.
Você tem alguns palpites sobre quem se beneficiaria mais com isso, os ricos ou os pobres, e se as desigualdades de renda e riqueza aumentariam ou diminuiriam como resultado. Para mim, essa é uma lógica bastante antiga.
Em diferentes momentos de sua obra recente, aponta-se a extrema desigualdade de poder e a existência de uma diplomacia financeira internacional imune ao controle democrático de suas decisões, que se sobrepõem aos Estados nacionais. As novas expressões de atuação política das massas apontam para possibilidades concretas de incidência política ou seguem extremamente distantes dos processos decisórios? Eles têm influência, sim. Se têm potencial de transformação, o futuro mostrará. Acho que depende muito do país e da região geográfica. Existem hoje muitas expressões de descontentamento, às vezes bastante radicais, sobre diferentes questões e em diferentes formas, sem, contudo, um denominador comum de magnitude política relevante.
Há descontentamento com os governos, de forma particular ou em ampla escala, relativo à má prestação de serviços, à insuficiente proteção contra riscos econômicos e incertezas, à falta de consideração do poder público por grupos específicos ou, em geral, pelos “perdedores” das guerras de competitividade.
No entanto, não há partido de massas, por mais organizado que seja, que possa unir as diversas oposições e dar um enfoque comum ao seu descontentamento. Além disso, a discriminação por raça ou orientação sexual não é nada essencial para a estabilidade do capitalismo, que pode facilmente prescindir de tais discriminações e se juntar à batalha contra elas.
Veja o apoio financeiro do banco Goldman Sachs ao “casamento para todos” ou as consideráveis doações aparentemente feitas por grandes empresas globais a uma organização como a Black Lives Matter, para comprar a boa vontade geral do público, bem como para se proteger de ataques específicos a suas práticas de emprego e contratação.
Já estamos convivendo há mais de um ano com a pandemia de Covid-19, um acontecimento global que impactou profundamente a economia e a política no Ocidente. Houve alterações de tendências que estavam em curso ou as análises anteriores à pandemia referentes à crise do “capitalismo democrático” seguem atuais? Mais uma vez,
lamento, muito cedo para dizer, pelo menos dessa forma. Tenho apenas duas tentativas de observação a fazer.
Primeiro, parece-me que a pandemia proporcionou um período de fôlego aos partidos centristas da esquerda e da direita, partidos que estão em decadência há algum tempo porque seus eleitorados tradicionais estavam se dividindo ou definhando.
A centro-direita parece estar se saindo melhor devido a sua experiência e solidez, enquanto a centro-esquerda continua a ser assombrada pelos verdes [partidos que colocam como centro de seus programas a questão ecológica] em suas diferentes formações, que ainda absorvem uma parte crescente do seu voto.
A esquerda radical, por sua vez, parece estar à beira da extinção política, já que não tem nada a oferecer sobre a pandemia que difira da política governamental dominante. A direita radical, em comparação, parece estar se saindo melhor, o que pode ter a ver com o fato de conseguir capturar, em nome da liberdade pessoal, a oposição dos pequenos empresários e dos profissionais autônomos contra as políticas de lockdown do centro e da esquerda.,
Em geral, acho interessante que a esquerda tenha se tornado o partido de um Estado forte, até mesmo autoritário, em nome da “ciência” e de saber melhor o que é bom para todos, alinhando-se ao governo do dia quanto mais este tem disposição para impor duras restrições.
Os vários grupos de pressão “Covid-zero”, em particular, estão mais à esquerda do que à direita, alguns fantasiando sobre um retorno de solidariedade universal, o povo, até mesmo os povos unidos, em um lockdown brusco e rápido: apenas três semanas ou quatro, e o vírus será derrotado. Isso é completamente ilusório e falhou até mesmo na Austrália.
A posição liberal, em comparação, é que temos de aprender a viver com o vírus e aceitar que algumas pessoas morrerão por algum tempo —uma posição que é considerada desumana, até mesmo fascista entre a esquerda, e é um grande tabu nas discussões políticas.
Quais foram os principais efeitos da pandemia sobre a Alemanha e a União Europeia? Como analisar os pacotes de estímulo econômico anunciados do ano passado? Os 750 bilhões de euros são apenas um passo, moderadamente criativo, do Estado fiscal para o Estado endividado, a ser seguido, inevitavelmente, por outro passo em direção o ao que chamo de Estado de consolidação.
Digo “criativo” porque encontrou uma maneira de contornar a proibição dos tratados para a UE contrair dívidas, embora, por enquanto, uma única vez, na vigência de um suposto estado de emergência.
Note-se que o dinheiro novo foi distribuído a todos os Estados-membros, e não apenas aos países mediterrâneos em sofrimento, pois todos são afetados em diferentes graus pelo que chamo de crise fiscal do Estado capitalista.
Todavia, enquanto a soma parece impressionante, tudo o que fará é financiar alguns projetos nacionais de prestígio, beneficiando os governos no poder, sem de forma alguma curar as assimetrias fundamentais da União Monetária Europeia que estão arruinando a Itália, a Espanha e a França, enquanto tornam a Alemanha rica.
Já antes da pandemia, a dívida havia se tornado a medida aceita para a falta de dinheiro público necessário para manter o capitalismo a flutuar sob condições de “estagnação secular”. A dívida, no entanto, deve ser paga em algum
momento, devendo o Banco Central Europeu manter as taxas de juros baixas porque, caso contrário, estados como a Itália poderiam entrar em inadimplência.
É verdade que, com engenhosidade suficiente, você pode sempre tentar adiar a hora da verdade. No entanto, se no caminho os investidores começarem a duvidar que recuperarão o dinheiro, o custo do refinanciamento da dívida aumentará, primeiro nos países fracos e depois também nos países fortes como a Alemanha.
Todos os tipos de acidentes políticos e econômicos podem acontecer por esse caminho, acidentes que exigirão ainda mais “criatividade” dos governos nacionais e das organizações internacionais.
No final do verão de 2020, Angela Merkel parecia bem-avaliada em sua gestão da pandemia, e a eleição nacional tinha a CDU (União Cristã-Democrata), partido da chanceler, como favorita. No entanto, passado o inverno, a situação parecia completamente diferente, com queda na popularidade de Merkel, nas intenções de voto na CDU e uma possível vitória verde nas eleições de setembro. Como tal mudança de conjuntura tem se expressado no debate programático?
Não haverá uma “vitória verde”. No final, os verdes poderão acabar com menos votos que o SPD (Partido Social-Democrata), que permanecerá nitidamente abaixo de 20%. Se nenhum milagre acontecer, o candidato da CDU/CSU (União Social-Cristã), Armin Laschet, será chanceler de um governo de coalizão que poderá incluir qualquer combinação com Verdes, SPD e o liberal FDP, dependendo dos votos que cada partido obterá. A política alemã é centrista até o osso.
Neste momento, Laschet, como primeiro-ministro do maior estado federal, Renânia do Norte-Vestfália, está tentando desenvolver um regime de combate à Covid-19 mais sustentável que o interminável lockdown de Merkel, adotado para agradar à ala “Covid-zero” do Verdes. Laschet governa com o liberal FDP, em afinidade com os pequenos empresários e outros que sofrem sob os sempre retornados lockdowns.
Você está pedindo o “debate programático”. Não há nenhum. Laschet produziu um “programa” que é tão trivial e chato que ninguém o está lendo. Nisso ele segue os passos de Merkel, que é completamente dissonante quando se trata de ideologia e afins, mudando repetidamente de direção em 180 graus se isso se adequar à sua política de coalizão.
O que há de mais ou menos diferente por parte dos líderes partidários está relacionado com as respostas às crises, que os manterão ocupados quando no cargo, em questões relativas à Europa Oriental, união monetária, finanças estatais, relação com a Rússia, confronto americano com a China e o desejo francês de que a “Europa” defenda seu império pós-colonial na África Ocidental etc.
Há um amplo consenso na Alemanha, incluindo cada vez mais também a AfD (Alternativa para a Alemanha), de que manter viva a união monetária deve ser a prioridade máxima da política alemã, pois a moeda comum é a principal fonte da prosperidade do país.
Há pequenas diferenças sobre o valor da compensação a ser paga pelo contribuinte alemão, em nome das indústrias de exportação alemãs, a países “perdedores” como Itália, Espanha e França por se agarrarem ao euro, sobre a melhor, menos visível, forma de pagamento, e quem seria melhor em negociar o preço para baixo.